Itabira e Carlos Drummond – uma viagem ao Matto Dentro
No destaque, detalhe do rosto da escultura Cristo no consistório, obra de Alfredo Duval, acervo da Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos
Fotos: Solange Alvarenga
“Da varanda da casa o velho (Alfredo Duval), com a mulher e os filhos, ergueu a mão num adeus. Boa gente. Que Deus os faça sempre assim. Que a Companhia Vale do Rio Doce não consiga tirar a doçura de Itabira. (Que tire somente o ferro)”
Por Caio Aurélio
Assim falou Cornélio Penna: “Para muita gente a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, ou São Paulo. Para mim, a nossa metrópole, de onde tudo devia irradiar (e há de chegar esse dia) de onde tudo lhe partir, é Itabira do Matto Dentro, com a sua prodigiosa cristalização da alma brasileira, de consciência e de seu princípio essencial”
Foi Carlos Drummond de Andrade quem revelou Itabira ao Brasil. Não a Itabira de hoje, a “Presidente Vargas” que está nos jornais e nas esperanças econômicas da Nação, mas uma outra cidade, sem propaganda e sem telefone, cidade simples.
Itabira do Mato Dentro engolida pelas montanhas no refúgio de sua timidez mineira, ocultando suas ruas de pedra, seus casarões e sua velha igreja. Surgida, como Ouro Preto e tantas outras, do rush da mineração do ouro, Itabira mergulhou mais tarde numa funda letargia (“Tive ouro, tive gado, tive fazenda”, diz o poeta).
Mas o seu nome mesmo (Itabira – pedra de ferro) inquietava aos que não sabem ouvir “remexer qualquer coisa lá em baixo, não sabem o que, e não têm outro sonho senão o de obter imediatamente esta coisa, morta ou viva” (Bernanos).
Itabira passou a ver constantemente em suas ruas as fisionomias de homens estranhos e eficientes, que traziam máquinas para explorar o ferro. E em nossos dias é Itabira o ponto mais importante da mineração do ferro em terra brasileira. Ali estão concentradas as esperanças de nossa emancipação econômica, e, decerto, um dos esteios do Brasil que virá (“cada um de nós tem um pedaço de ferro no Pico do Cauê” – CDA, Poesias).
Mas, como já dissemos, não são esses valores que interessam ao que estamos escrevendo. Como toda gente de bem que se interessa pela moderna literatura brasileira, somos leitores e admiradores de Carlos Drummond, o poeta de Itabira, “nosso poeta e nosso irmão”, como tão bem disse Marques Rebêlo.

Carlos Drummond, com aquele poder intenso de comunicação que é uma das características mais fortes do fenômeno poético de que se fez portador, mesmo através da secura aparente de sua poesia (secura que não é, por sinal, senão uma prova indiscutível da honestidade artistica do poeta), faz de cada leitor seu um curioso e um interessado nas coisas de Itabira, naquele misterioso Tutú Caramujo, “sentado na porta da venda”, nas ferraduras que batem no calçamento “como sinos”. E sente-se, sem querer, uma irresistível atração e curiosidade de conhecer essa cidade estranha, onde as noites são brancas e as ruas de ferro.
Morando no Rio, sem nunca ter sequer visto Belo Horizonte, não tínhamos a menor ideia de vir um dia a conhecer Itabira. Mas as coisas mudam e o mundo roda. E um belo dia, quando menos esperávamos, fomos à cidade de Carlos Drummond.
Estávamos em Figueira do Rio Doce (hoje Governador Valadares e centro da produção de mica no Vale do Rio Doce). Embarcamos às 4 horas da manhã, pelo trenzinho da Estrada de Ferro Vitória a Minas, para S. José da Lagoa (hoje Nova Era), que é o ponto de junção com a Central do Brasil, que vai para Belo Horizonte, passando por Santa Bárbara e Sabará.
Eram cerca de 2 horas da tarde quando a camionete partiu para Itabira pela estrada empoeirada (estávamos em julho e havia muitas semanas que não víamos chuva). Uma grande excitação tomava conta de nós. Versos do poeta Carlos e narrativas fumacentas de Cornélio Penna – o romancista de Itabira – embaralhavam-se em nossa memória.
Dos lados da estrada víamos fazendas no fundo das grotas, a casa-grande cercada de espessas árvores (mangueiras escuras e arredondadas) e um silêncio grande cercando tudo, silêncio sem cigarras onde aqueles mesmos versos recorriam sempre “Tive ouro, tive gado, tive fazendas. Hoje sou funcionário público. Itabira é apenas uma fotografia na parede, mas como dói”.

Depois de uma viagem de mais de duas horas, Itabira apareceu de repente. Quatro e meia da tarde, a cidade pareceu-nos estranha, cheia de imensos casarões alvos e ruas de ferro. Uma opressiva atmosfera de vida passada, de riqueza morta, paira do alto dos telhados semi-chineses e de varandas de ferro batido. Pouco a pouco as sombras vieram descendo das montanhas e cobriram Itabira. O futebol de rua dos garotos do ginásio foi se dispersando…
À noite, da varanda do hotel, contemplávamos a rua lá em baixo. “Cidade sem mulheres e sem horizontes”, diz a Confidência do Itabirano. A Itabira de hoje – tão diferente: as moças fazem o fúting na Rua do Tiradentes – e são bonitas, muitas delas claras de olhos azuis.

Muitas coisas estão diferentes, inteiramente mudadas, diz a gente da cidade. “Se o senhor visse isto aqui há poucos anos atrás…” (O homem da sorveteria tem a fisionomia aberta e simpática). Itabira tem até telefone para o Rio.
Lembramo-nos então de conversar cinco minutos com alguém que não vemos há quase dois meses. A telefonista é branca, de olhos claros. Estamos inquietos, quase comovidos. Os cigarros acabam depressa. Nunca esquecerei a doçura daquela voz: “Presidente Vargas chamando o Rio…” Presidente Vargas? Ah, sim. Tanta coisa nova…
A Companhia Vale do Rio Doce afugenta um pouco a poeira, o mofo e os fantasmas familiares de Itabira do Mato Dentro. CVRD está nos para-brisas de muitos automóveis e caminhões, uma estrada de ferro e um aeródromo ligam Itabira à “civilização”.
Itabira acordou coberta de sol. Fomos subindo a Rua do Tiradentes. O calçamento é realmente de ferro – não se trata aqui de nenhuma imagem poética – pedras do mais alto teor metálico, cerca de noventa por cento, já lisas e apagadas pelo passar de muitos pés e muitas ferraduras das tropas de mulas cuja madrinha ou mula de frente tem a testa toda enfeitada de estrelas e corações de prata ou latão e um pano vermelho em torno da cabeça.
Itabira é uma cidade fechada, “sem horizontes” – daí o ser do “mato dentro”, o que quer dizer “de dentro do mato, não de planície”. Das encostas das montanhas que a cercam, descem as ruas, estreitas e tortuosas, convergindo todas para um planalto central onde está a Igreja Matriz, a Prefeitura, o comércio principal, certos casarões de enormes proporções, incluindo o Teatro Municipal, gozadíssimo edifício, hoje em ruinas.
Fomos falando com um e com outro, parando nos botequins para tomar um cafezinho, na livraria para obter uns cartões postais. Pelos versos de Carlos Drummond, tem-se a impressão de que Itabira é uma cidade árida, sem mulheres, habitada por uma gente reservada, áspera.
É possível que fosse assim há uns dez ou vinte anos. Hoje não. Encontramos ai aquela doce solicitude que é uma das características dominantes do brasileiro do interior. O homem da rua, o botequineiro, o negociante, o preto velho com cara de escravo, todos são de uma tocante simplicidade e gentileza.
Sem sentir, vimo-nos diante da igreja do Rosário, a mais velha de Itabira e hoje considerada Monumento Nacional. O velhinho do hospital – o velhinho de todos os hospitais e santa-casa do Brasil – trouxe solicito a chave e abriu a porta ensombrada por um monte de telhas e tijolos, testemunhas de que a Prefeitura pretende um dia remodelar a igreja. No interior bolorento, santos em madeira e massa e uns belíssimos castiçais de cedro. E a surpresa do velho diante do nosso interesse por aquela velharia toda…
Indo à Prefeitura para uma visita, subimos até a biblioteca. Lá encontramos o primeiro livro de Carlos Drummond, encadernado em madeira, bem como a bibliotecária, menina de uns vinte anos, sobrinha do poeta. Mostrou-nos a casa em que ele morou, um sobradão todo pintado de azul, onde irreverentemente funciona hoje um armazém de secos e molhados.
Soubemos dela, por acaso, que o velho santeiro Alfredo Duval – aquele mesmo S. Benedito, uma das “prendas diversas” – ainda era vivo e morava na Rua do Recreio, junto à do Tiradentes. Fomos correndo visitá-lo.

Preto já velhinho, trêmulo, com oitenta e seis anos, já não faz mais santos. Ficou felicíssimo com a nossa visita. Contou-nos coisas antigas, de como Carlos Drummond lhe emprestava romances de Dumas – “o maior escritor do mundo”. Havia uns cinco anos atrás, contou-nos, sofrera um grande abalo porque o padre de Itabira não quis benzer um santo dele, não sabemos por que razão.
Mostrou-nos várias imagens, inclusive uma Nossa Senhora da Conceição, com uns 40 centímetros de altura, que, contou-nos, fora esculpida por um escravo refugiado nas matas e perseguido pelos feitores. Nada mais possuindo além de uma faca, talhara a imagem para se distrair. É uma verdadeira maravilha de proporções e colorido.
Compramos ao velho Duval um crucifico em madeira e recebemos o presente de uma Descida da Cruz, toda miudinha, no interior de uma garrafa. Pouco antes de embarcar fomos nos despedir do velho Duval. Demos-lhe cigarros e prometemos fazer chegar ao poeta Carlos um recado seu.
“Mande, dizer ao Carlitos para ele me mandar aquele livro”. Enquanto falava, com a sua voz macia, sumida, uma baba brilhante escorria-lhe pelo lábio inferior e pela barba encarapinhada. Estupidamente comovidos descemos ladeira abaixo em demanda da Rua do Tiradentes. Da varanda da casa o velho, com a mulher e os filhos, ergueu a mão num adeus. Boa gente. Que Deus os faça sempre assim. Que a Companhia Vale do Rio Doce não consiga tirar a doçura de Itabira.
(Que tire somente o ferro).
Eram cinco horas da tarde quando subimos até o cemitério. Logo à entrada ergue-se uma enorme cruz, cuja base há uma caveira e duas tíbias cruzadas junto às letras pretas “Do pó vieste e ao pó voltarás”, e de cujos braços pendem os instrumentos diversos relativos à crucificação: espada, lança, coroa, lençol, escada, tudo executado em madeira.
Algumas sepulturas são tão velhas que nada mais se lê sobre as lajes amarelecidas pela água das chuvas. Graças à solicitude habitual aos coveiros, pudemos também visitar a capela pequena, visivelmente abandonada e aliviada de algumas de suas antiguidades (não sei por que lembramo-nos de Copacabana).
A rua que costeia o cemitério é daqueles caminhos altos circulares que, da encosta dos morros, contemplam, pelas ladeiras que caem como pedras, a cidade meio encoberta pelas árvores.
Naquela mesma rua morou Maria Santa, num pequenino chalé para onde afluíam as caravanas de peregrinos vindos dos fundos do interior para vê-la em transe durante a Semana Santa e espetar-lhe tranquilamente alfinetes pelo corpo.
Lá para baixo, invisível, em direção ao caminho do Cauê, adivinhamos o casarão da Rua de Santana junto à ponte de pedra, cenário de Cornélio Penna. Na cidade, a luz das janelas é quadriculada pelas guilhotinas.
O reforço metálico do bico de nossos sapatos vai tinindo ladeira abaixo. Estamos sozinhos no espaço. Mas não estamos sós. Nico Horta, Tutu Caramujo, Maria Santa, a viajante, o velho Alfredo Duval acenando da varandinha da casa, todos estão conosco e ouvem o grito prolongado dos boiadeiros que descem pelo caminho do Cauê.
[Rio (RJ), junho de 1944. Hemeroteca da BN-Rio – Pesquisa: Cristina Silveira]

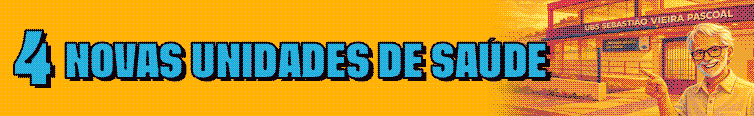
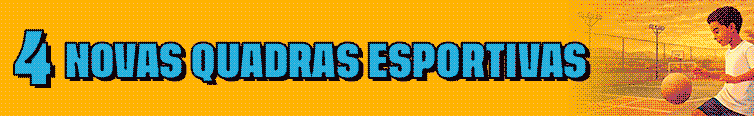







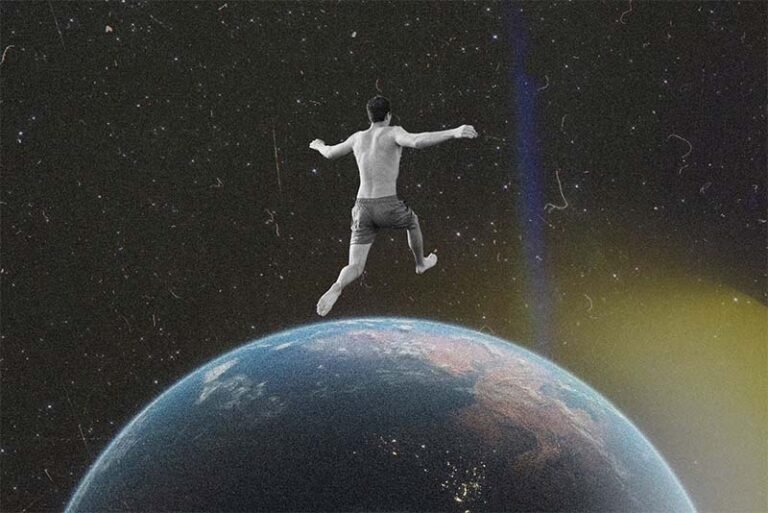
Bela matéria, aplausos