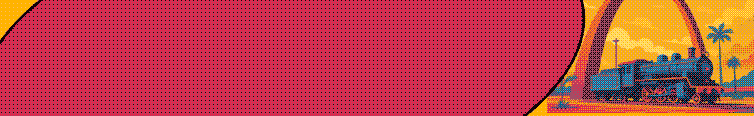Memória de gente: Luís Camillo, a flor do deserto
Fotos: Acervo BN/Rio
Por Paulo Mendes Campos
Eu era menino. A casa de Luís Camillo de Oliveira Neto ficava ao lado da nossa. De manhã eu o via saindo, gesticulando, falando em voz alta a aula que iria proferir daí a pouco numa faculdade.
À tarde, eu o via chegar carregado dos livros que escondia na garagem, a fim de removê-los para o corpo da casa à noite. A falta de espaço preocupava sua esposa; não lhe sendo possível extinguir o vício da leitura, ele introduzia os volumes em casa sorrateiramente, na calada, como um ladrão às avessas.
Já homem feito, aqui no Rio, Rua da Matriz, fui apresentado a essas preciosidades que ele juntou com paciência e amor, um fabuloso patrimônio bibliográfico da história do Brasil.
Homem honesto e combativo, assinou o Manifesto dos Mineiros, foi perseguido, perdeu o emprego. Com a restauração democrática, aconteceu-lhe esta coisa que, antes de ninguém, divertia a ele mesmo: foi nomeado diretor de um banco.
Foi o banqueiro que mais entendeu no mundo o fabricante de “papagaios”: sofria mesmo de ternura por qualquer pessoa que lhe pedia um empréstimo ou uma doce reforma. Desassombrado inimigo das praxes formais e impiedosas, passava por cima dos regulamentos, ria-se com prazer dos temerosos colegas que o acusavam de imprudência.

Mais duma vez eu o vi recolher uma promissória vencida e escondê-la do protesto em sua gaveta. Do ponto de vista da classe, foi o pior banqueiro que jamais existiu; do ponto de vista nosso, foi o melhor, o banqueiro ideal, o banqueiro perfeito, a flor do deserto.
Eu chegava no seu gabinete na Avenida Rio Branco: os contínuos, trabalhados pelo hábito, continuavam solenes, mas Luís Camillo me mandava entrar com o grito jovial do mineiro que acolhe em casa um amigo.
Se atendia a alguém, eu esperava um pouco, divertindo-me: o cliente do banco falava em murmúrios, confiando os segredos do algodão, da indústria, do comércio; ele respondia alto, com aquela sua franqueza clara e simpática. Se a explicação do postulante ficava prolixa, ele abaixava os olhos, como um confessor entediado.
Um dia me contou porque fazia isso: tinha sempre na gaveta um livro de poemas aberto; enquanto o outro discorria sobre negócios, o banqueiro Luís Camillo lia Rainer Maria Rilke. Dizia o cliente: “Com o empréstimo, posso fazer uma composição, liquidar todos os débitos e dedicar-me ao aumento de produção da fábrica de arame farpado, que não dá para os pedidos.”
Em confidência, o poeta Rilke lhe dizia: “À vontade de Deus, antiga torre, giro há milhares de anos; mas ainda não sei se sou uma tormenta, um falcão ou um grande canto.”
Como os clientes falassem demais, teve outra ideia para aproveitar o tempo: estudar latim. Enfiou uma gramatica na gaveta. Resmungava o negociante: “Eu só quero o vencimento em quatro meses ou então uma redução da taxa.”
O banqueiro-estudante abaixava os olhos: “Veritas, veritas, veritatem, veritatis, veritati, veritate.”
Uma vez, quando cheguei, ele estava em reunião de diretoria. Levantou-se, disse aos colegas que tinha um assunto grave e inadiável para tratar comigo, pegou-me pelo braço e me disse em voz abafada:
“Vamos cair fora, que eu não aguento mais essa gente.” Lá fora tomamos um táxi:
– Toca para qualquer lugar.
– Como?
– Para qualquer lugar onde não tenha banco.
Então virou-se para mim:
– Você leu o ultimo romance do nosso Cornélio?
(Fonte: BN, Rio – Pesquisa: Cristina Silveira)