Homens de carne nas Minas do ferro
Imagem de Cyrille Remacly por Pixabay
O ofício de ferreiro entre escravizados e libertos; práticas, aprendizagem e horizontes de liberdade (1808-1888)
Maura Silveira Gonçalves de Britto1
PER VIAS ET LOCOS – As Minas Gerais do Oitocentos há algum tempo vem sendo palco de debates historiográficos acerca de sua organização social, estrutura econômica, e formas de poder nela vigentes. Temas como a evolução da escravidão na Província, as características do trabalho escravo e a transição deste para o trabalho livre, as características da economia, seus vínculos com o mercado externo ou sua capacidade de acomodação evolutiva num período em que os veios de metais e pedras preciosas tornavam-se escassos em grande parte da Província têm constituído os pontos fortes deste debate.
Contudo, ao se tratar das Minas Oitocentista, por vezes utiliza-se uma terminologia geral para identificar uma ampla área sobre a qual é possível, ou mesmo, recomendável, fazer uso de outras qualificações. Dito isso, torna-se oportuno trazer à tona alguns elementos para se pensar a que “Minas Gerais Oitocentistas” nos referimos.
Avocamos para frente da discussão a questão da região, do espaço em uma perspectiva em que este só pode ser estimado enquanto parte de uma experiência vivida. Para analisar as atividades de produção e transformação do ferro desenvolvidas por escravizados e forros, no decorrer do século XIX, procuramos tais experiências no espaço mineiro em que tais práticas apresentaram maior destaque no período em questão.
Ao nosso recorte demos o nome de Minas do ferro.2 Assim, o espaço em que buscamos visualizar a maneira como se desenvolveram as atividades ligadas ao ferro e as relações criadas em torno das mesmas corresponde a Itabira do Mato Dentro e seus distritos (Antônio Dias, Joanésia, Santana do Alfié, Santa Maria de Itabira, São Domingos do Prata, São Gonçalo do Rio Abaixo, São José da Alagoa, São Miguel e Cuieté) e Santa Bárbara (cujos distritos são Cocais e São João do Morro Grande).3
Se analisamos um fenômeno, um processo social, este fenômeno é localizado, ele ocorre em um “lugar” definido. Este lugar, contudo, tem relações (sociais, políticas, econômicas, culturais) com outros lugares. Qual intuito então de segmentar um espaço para análise? Como promover esta segmentação do espaço em uma pesquisa empírica? Nesse sentido, nossa regionalização não se constitui a priori por um limite administrativo. É antes, resultado de um conjunto de espaços, ao mesmo tempo sociais, econômicos, políticos, naturais e culturais.
1. Espaço vivido e Minas do ferro

Aventamos aqui por Minas do ferro a região que compreende os atuais municípios de Itabira e Santa Bárbara, áreas cuja atividade ferrífera ocorreu em conjunto com a extração mineral do ouro no oitocentos e que deixou em seus núcleos urbanos e aspectos naturais os efeitos da atividade metalífera.
A delimitação de tal região, nessa perspectiva de análise, se fez a partir de uma reconstrução histórica através de relatos de viajantes que estiveram em Minas Gerais durante o século XIX e pelos indícios da presença marcante de ferreiros nessa área.
A pesquisa em inventários post-mortem presentes no Arquivo Público Municipal de Itabira, que se estendem pelo período de 1813 a 1888, e nas relações nominais de habitantes das décadas de 1830 e 1840 indica grande número de artífices dessa natureza em Itabira e Santa Bárbara, núcleos centrais de povoamento de nossas Minas do ferro.
Pensar em segmentação do espaço para definir uma região de análise implica em definir alguns critérios (social, natural, econômico, político, cultural) para tal. A noção de espaço associada exclusivamente à paisagem natural e à relação entre homem/natureza vem sendo discutida desde o fim do século XIX, quando a vertente determinista da escola alemã passa a ser relativizada.
Vidal de La Blache (1954), embora mantenha a relação entre homem/natureza
como eixo de sua noção de espaço, apresenta algumas contribuições importantes que nos servem como parâmetro. Sua análise sobre os gêneros de vida nos permite considerar uma visão de espaço e região definidos por artefatos, que pode ser interessante.
A partir disso, para definir o espaço das Minas do ferro, em nossa proposta, poderíamos seguir, por exemplo, um critério de presença de ferreiros. Isto nos possibilitaria evitar anacronismos que tendem a recorrer meramente a recortes administrativos da organização espacial do poder. É preciso então perceber qual aspecto – ou quais – melhor se adequa(m) a proposta da pesquisa para definir o espaço da análise.
Assim, o caminho a seguir para definir e segmentar o espaço de análise é ver a região como um problema teórico-metodológico, que o próprio objeto da pesquisa pode ajudar a solucionar.
Outra proposta que permite abrir nossos horizontes acerca da noção do espaço, e, com isso, lançar luz sobre o critério de regionalização a ser utilizado, é a de Doreen Massey (2008). A autora nos alerta para o risco de avaliar o espaço de forma estanque, considerando apenas qualquer limite administrativo como forma de segmentação do mesmo.
Salienta que o espaço deve ser visto como algo aberto, percebido a partir da experiência daqueles que o ocupam; um espaço vivido. A esfera do vivido se realiza através de relações invisíveis, a partir do cruzamento das trajetórias dos indivíduos. Para Massey (2008), são essas trajetórias individuais reunidas em feixe, ao cruzarem-se umas com as outras trajetórias individuais, que constituem a própria noção de espaço.
“Pois tal espaço implica o inesperado. O especificamente espacial dentro do espaço é produzido por isso – algumas vezes por um acaso substancial, outras não: arranjos em relação um-com-o-outro, que é o resultado da existência de uma multiplicidade de trajetórias. Em configurações espaciais, narrativas de outra forma não conectadas podem ser conduzidas a entrar em contato, ou outras, previamente conectadas, podem ser descartadas. Há sempre um elemento de ‘caos’. Este é o acaso do espaço; o vizinho acidental é emblemático a esse respeito. O espaço com o sistema fechado do corte essencial pressupõe (garante o singular). Mas, nessa outra espacialidade, diferentes temporalidades e diferentes vozes precisam descobrir meios de acomodação. O acaso do espaço tem que ser correspondido.” (MASSEY, 2008, p. 165-166)
A partir da percepção do espaço como um feixe de trajetórias vivenciadas pelos indivíduos, como perceber o aprendizado e a transmissão deste “saber fazer” do ofício de ferreiro entre os agentes sociais aqui investigados? Teria sido este ofício apreendido na Itabira do Mato Dentro, na Província de Minas ou seria um saber exógeno, trazido pelos africanos que ali estiveram?
Em nosso recorte temporal, esse ofício estaria mais presente entre brancos, pardos, crioulos ou africanos, entre escravizados ou forros? Ou tais técnicas e saberes teriam se desenvolvido nessa área a partir de engenheiros e mineralogistas estrangeiros, que conjugaram seus conhecimentos às práticas locais, num momento em que proliferavam pequenas e médias forjas na região das Minas? De que forma se dava a transmissão desses saberes?
Estas perguntas podem nos ajudar a compreender a experiência vivida e as práticas culturais desses agentes. Auxiliam-nos a compreender melhor nosso espaço de análise. Problematizando nosso espaço, buscamos apreender nas fontes os vestígios de uma atividade econômica: a extração e transformação do minério de ferro. Tendo em vista também seus aspectos sociais e culturais, a formas de produção e transformação do ferro realizadas por uma parcela da população cativa e liberta das Minas do Ferro.
Nesse sentido, recorremos então a um critério natural – a existência de jazidas de minério de ferro e fontes água e lenha que possibilitariam essa atividade –, e de um elemento sociocultural – a maneira como essa atividade foi desenvolvida (por quais agentes, através de que técnicas, sob quais valores e expectativas) para considerar nosso espaço de pesquisa. Para tanto, nos atentamos para os relatos de viajantes estrangeiros para definir as áreas da Província que estiveram mais propícias a essas experiências.
Assim, neste trabalho, é também nos relatos de viajantes estrangeiros que procuraremos estabelecer os limites do que então chamamos de “Minas do ferro”. Nesse propósito, as observações feitas pelo naturalista francês Auguste de Saint-Hilaire são bastante elucidativas.
Em viagem pela Província de Minas nas primeiras décadas do século XIX (1816-1822), Auguste de Saint-Hilaire apresenta-nos um instigante quadro dos aspectos naturais, da povoação, principais atividades econômicas e dos costumes dos habitantes das Minas naquele momento. Certamente, devemos realizar sobre suas impressões uma crítica documental, uma vez que o olhar do viajante francês via a si e aos outros impregnado de valores próprios do mundo europeu.
De modo que suas observações sobre o que via nas Minas é o “olhar do outro”, e como tal, carrega em si a percepção de uma dada realidade, um fragmento do passado visto por outrem, a partir suas perspectivas e representações culturais.
“Saindo de Vila Rica em direção à Vila do Príncipe, Saint-Hilaire segue por Mariana, Inficcionado, Camargos, até chegar a Catas Altas. Durante todo percurso, descrito em minúcias, o viajante mostra-se espantado com os efeitos danosos que a febre do ouro causou ao modo de vida dos mineiros e ao ambiente que os cercavam.” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 89).
O naturalista atribui aos resultados da colonização lusa, à falta de aplicação das leis, ao convívio com a escravidão e aos maus exemplos dos portugueses essa imprevidência dos mineiros. Adverte também que, nesta área de exploração aurífera, não se tem cuidado em preservar as matas virgens, e que os sistemas de lavagem do ouro, por vezes, causam o assoreamento do leito dos rios, que tem suas margens repletas do cascalho das escavações.
O viajante francês, em seu diário de viagem, se refere às técnicas agrícolas empregadas nas Minas, que, em sua análise, lesavam ainda mais a preservação das áreas de florestas. Afirma que não se utilizava nessas áreas fertilizantes ou o arado, e que o preparo do solo se limitava a atear fogo ao terreno a ser cultivado e cortar em altura conveniente as árvores que o cobrem.
Tal prática, bastante disseminada – assim como a extração mineral – teria sido responsável por uma grande transformação na paisagem natural das áreas mineradoras da Província. Saint-Hilaire é taxativo ao afirmar que “onde há matas não existe lavoura”. (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 90).
O quadro apresentado pelo naturalista em seu trajeto de Vila Rica a Catas Altas nos mostra algumas dificuldades que tais áreas teriam para o desenvolvimento de uma atividade de extração de minério de ferro e sua transformação, mesmo com o potencial ferrífero de seu subsolo.
A tecnologia de extração e transformação do metal disponível na época fazia ser necessária a presença de três elementos básicos para a produção de ferro: o mineral, matas para gerar lenha para a forja e fontes de água como força motriz. A ferocidade da mineração aurífera e a prática da agricultura corrente teriam dificultado a presença dos dois últimos elementos.4
A paisagem descrita por Saint-Hilaire começa a modificar-se a partir de Catas Altas. Embora ainda vislumbre os efeitos das escavações do ouro e destacasse também a pobreza do lugar, ao passar por Santa Bárbara em direção a Itabira do Mato Dentro, o naturalista oferece-nos outras informações:
“Pela ideia sucinta que dei da Província de Minas, pode-se bem supor que
estando situada ao oriente da grande cadeia interior, a região que se estende por um espaço de dez a nove léguas, entre Itajuru e Itabira deve ter sido outrora coberta por matas virgens, e que é cortada por montes e vales. Em vários lugares as matas ainda subexistem; em outros cederam lugar como sucede geralmente às capoeiras e aos campos de capim gordura. Comparado ao nosso país essa região poderia passar por deserto; não podíamos, porém, considerá-lo como tal relativamente a tantas outras zonas da Província de Minas.
Deixando Itajuru, tornei a observar os lamentáveis efeitos das lavagens, mas depois de passar por um povoado situado em um vale a meia légua da morada do Capitão Gomes, deixei de avistar minas. (…) Entre As Bicas e Itabira, que de lá dista 4 léguas, o caminho costeia vales irrigados por arroios de água excelente. Nas regiões de mata virgem, em geral, as águas são ao mesmo tempo abundantes e puras (…).” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 118-120)
As observações de Saint-Hilaire contribuem em nosso propósito de delimitar nossas Minas do Ferro, na medida em que nos oferecem a descrição dos elementos naturais da paisagem desta Província de Minas oitocentista e de algumas características de práticas minerárias utilizadas no período.
Na representação a seguir podemos identificar alguns dos locais pelos quais Saint-Hilaire passou em seu trajeto, partindo de Vila Rica em direção a Itabira.
Imagem 1 – Representação aproximada do Trajeto de Saint-Hilaire

Como já foi salientado anteriormente, apresentamos uma perspectiva de região que não pode ser definida por um critério único, ou dada a priori por um recorte puramente administrativo. As informações do naturalista francês pautam-nos, por exemplo, de reconhecer na área descrita por ele a presença de elementos indispensáveis para a exploração e transformação do ferro: minério de ferro, água e matas.
Na mesma medida, não se limitam a simples descrição da paisagem. Os aspectos ligados às características dessa atividade, técnicas e mão de obra utilizadas, que são outros critérios utilizados aqui para delimitação do espaço de análise da pesquisa, também podem ser identificadas pelo relato de Saint-Hilaire, e serão tratadas mais adiante. Ao se aproximar de Itabira do Mato Dentro, o viajante depara-se mais uma vez com os impactos da mineração aurífera. Relata o aspecto das margens do córrego que costeia a estrada, tendo os morros revolvidos pela escavação.
Contudo, ao contrário do quadro que apresentou para as vilas encontradas no caminho, como Vila Rica, Mariana e Catas Altas, Saint-Hilaire depara-se com uma povoação que chama de florescente, na qual a mineração do ouro ainda é ativa e lucrativa, e onde, após a permissão dada pela Coroa para a produção de manufaturas a partir das demandas criadas pela presença da corte portuguesa no Brasil, se encontrariam também diversas forjas que fundiam o ferro e produziam dele instrumentos agrícolas e espingardas.
“Apesar da diminuição que poderia ter sofrido nos produtos das minas, esse era ainda, por ocasião da minha viagem, um dos que mais ouro produziam; assim, a povoação de Itabira achava-se numa fase de notável esplendor. Nada aí fazia lembrar esse ar de decadência que aflige o viajante quando percorre os arredores de Vila Rica, ou mesmo quando atravessa as povoações de Inficcionados, Camargos e Catas Altas. Havia aí muitas casas lindas de sobrado, e construíam-se novas, apesar dos enormes dispêndios que era necessário fazer retirar madeiras dos morros vizinhos. (…) Se três lavras, com trezentos operários, assim metamorfoseavam um miserável povoado em uma importante povoação, o que será quando se explorarem os morros do Rio de Peixe, do Piçarrão, do Piriquito e dos Doze Vinténs, que, segundo todos os indícios, são abundantíssimos em ouro?!” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 122).
Mesmo impressionado com o aspecto do povoado, Saint-Hilaire aponta para a
efemeridade da riqueza do ouro, quando mal empregada. E atesta a importância da exploração do ferro no local, já presente em certa medida, como uma forma de manter o esplendor do momento de sua viagem, resultado da extração aurífera.
Seguindo seu trajeto, o naturalista continua a nos fornecer informações acerca do povoado, assim como das condições presentes neste para a atividade de extração e transformação do minério de ferro. Nesse sentido, haveria nesta área uma conjugação da extração aurífera e ferrífera e pelas características do subsolo, o ouro encontrava-se aglutinado ao minério de ferro. Sobre o início das atividades de transformação deste minério em Itabira, Saint-Hilaire ainda nos informa que
“Domingos Barbosa foi o primeiro que, tendo visto fabricar o ferro perto de Mariana, ensaiou o de Itabira, e seu exemplo foi em pouco seguido pelos homens ricos e os ferreiros da povoação. Manoel Fernandes Nunes, homem muito industrioso, mandou construir fornos e criou uma manufatura de espingardas. Suas forjas foram o modelo de doze outras depois estabelecidas na região. Pessoas, que outrora passavam a vida a mendigar, trabalham atualmente nessas fábricas, e aí encontram abrigo contra a ociosidade, o vício e a miséria.” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 122)
Seguindo em direção a Vila do Príncipe, Saint-Hilaire depara-se ainda com duas áreas onde se encontram forjas. Uma delas, ainda nas proximidades de Itabira, a chamada Forja – ou Fábrica – do Girau, e as forjas descritas por ele nas redondezas de Gaspar Soares, próximo à Itabira do Mato Dentro.
Nessa área, o Intendente Câmara tentou estabelecer uma grande fábrica de ferro no intuito de abastecer a Província e eliminar a necessidade da importação do metal. A respeito das forjas do Girau, o naturalista francês relata-nos:
“Tendo caminhado uma légua, atravessando a princípio a mina de Sant’Ana e em seguida grandes bosques, chegamos às forjas do Girau. Esta está situada em uma baixada, à margem de um córrego, e rodeada por todos os lados de morros cobertos de imensas florestas. Um dos edifícios serve de abrigo aos operários; em outro, situado mais baixo, estão colocadas as forjas, e um último, que se estava então construindo, se destinava a receber os escravos.
(…) Essa forja, como veremos, possuía todos os elementos de prosperidade: o governo concedera ao proprietário, para a fabricação de carvão, quatro sesmarias de matas; o ferro se encontra, por toda a parte, nos arredores, e a água, em grande abundância, fornece os meios de movimentar a maquinaria da fundição; finalmente, as terras da vizinhança, vermelhas e argilosas, parecem ser férteis, e podem fornecer víveres aos operários.” (SAINT-HILAIRE, 1974, p. 127-8.)
Enfim, todos esses elementos assentados aqui reafirmam os critérios utilizados em nossa pesquisa para delimitar as Minas do Ferro, indo além de um recorte puramente administrativo. E tendo em vista um conceito de região que considere vários aspectos e pautado na experiência vivida, nas práticas e nas relações de trabalho dos agentes históricos em questão.

2. Economia mineira Oitocentista
As características da economia mineira do século XIX, assim como sua dinâmica populacional, já há algum tempo vem sendo fonte de grandes debates na historiografia. Dentre as questões levantadas por esses debates, podemos citar as formas de organização econômica da Província após o boom minerador, quais atividades passaram a ser primordiais e de que forma estas se relacionavam – ou não se relacionavam – ao comércio de exportação.
A queda da produção aurífera nos grandes centros mineradores, visível já em fins do século XVIII, em certas interpretações, teria se configurado em uma noção de decadência das Minas no século XIX. Essa abordagem tem sido constantemente relativizada pelos historiadores que se dedicam ao período, e o desenvolvimento de estudos regionais tem reforçado cada vez mais essa tendência.
Um importante conceito discutido por Libby (1988) para compreender as formas de organização da economia mineira oitocentista é o conceito de “acomodação evolutiva”. O século XIX mineiro, de acordo com essa visão teria sido marcado por um processo de reordenamento econômico, através do qual algumas atividades que, em momento anterior, eram apenas subsidiárias à mineração, assumiriam maior vulto quando os lucros da mineração se mostravam insuficientes.
Entre essas atividades, temos a agropecuária e algumas atividades de transformação, como a têxtil e a siderurgia. O objetivo do aumento dos investimentos nestas atividades seria garantir à Província a capacidade de abastecimento de gêneros alimentícios e manufaturas diversas e, com isso, reduzir a necessidade de importação de alguns bens de consumo.
Tais abordagens não negam a queda dos lucros da mineração, mas buscam compreender seus reais impactos para a economia mineira oitocentista. Sobre esse processo, Paiva observa que
“Alguns estudiosos insistem na natureza ‘fechada’ da economia provincial, ou seja, numa produção escravista destinada a uma fracionada rede de mercados vicinais (…)
Um dos críticos a tal visão aponta para a existência de determinados setores dinâmicos dentro da economia mineira, setores estes que além de participar direta ou indiretamente da economia de exportação, teriam servido de sustentáculo da agropecuária mercantil (e, portanto, da economia como um todo) através dos efeitos multiplicadores do consumo da massa de mão-de-obra engajada em atividades não agropastoris. (…)
Têm-se também um estudo que revela a enorme importância dos setores de transformação da economia mineira. Na verdade, a Província teria passado por uma fase de protoindustrialização que, ao empregar dezenas de milhares de mulheres – livres e escravas – na produção caseira de fios e panos e ao fabricar ferro e toda sorte de ferramentas, estabeleceu uma relativa independência regional com relação à importação de toda uma gama de mercadorias estrangeiras.”(PAIVA, et al., 1988, p. 23-24.)
Outro ponto de debate se refere às razões apontadas para os altos índices da população escrava nas Minas durante o século XIX, período em que suas ligações com o comércio de exportação estariam mais restritas. Um dos primeiros trabalhos que enfrentou tal problema foi o de Martins (1980).
Para este autor, os índices da população cativa das Minas oitocentista eram resultados de uma importação líquida de escravizados, uma vez que as taxas de crescimento natural da população escrava foram sempre muito baixas para serem responsáveis pela reprodução dessa população.
Para ele, a economia das Minas, ainda que voltada para uma economia de abastecimento – excetuando-se as regiões que continuaram ligadas a economia de exportação com a expansão da produção de café – continuaria intimamente ligada às dinâmicas comerciais e populacionais próprias da escravidão.5
A partir desse trabalho surgiram vários outros. Luna e Cano questionaram a proposta de Martins no que se refere à reprodução da escravaria. Os autores consideram que sendo a economia mineira oitocentista firmada em atividades que eram menos danosas à expectativa de vida dos escravizados que à mineração, a hipótese de reprodução natural não poderia ser descartada. (LUNA & CANO, 1983) Essa proposta ganha força quando a utilização de novas fontes de pesquisa e a busca por arquivos locais permite verificar – em inventários post-mortem,
O trabalho de Clotilde Paiva (1988) também teve grande contribuição para o aprimoramento de tais discussões. Tendo como fontes um conjunto de listas nominativas referentes à Província de Minas Gerais, produzidas entre os anos de 1831/1832, a autora traria novos dados a respeito da organização econômica e estrutura populacional da Província na primeira metade do século XIX. Atenta para a questão do tratamento das fontes e formas de se
delimitar o espaço de análise, Paiva propõe uma nova regionalização para Minas e, a partir dessa, definiu padrões socioeconômicos e demográficos para o todo da Província.
A partir disso, Paiva propôs categorizar os níveis de desenvolvimento para essas regiões de forma que se poderia observar, em cada área, graus de maior ou menor inserção no setor de exportação, assim como de dependência em relação ao trabalho escravo como mão-de-obra predominante, e a dinâmica populacional de cada uma dessas áreas.
Sua análise demonstrou a manutenção da ligação de algumas áreas da economia mineira com os setores de exportação, contrariando a proposta de Martins. Ainda assim, a autora aponta para a existência de uma economia
extremamente diversificada e dinâmica, com uma produção de subsistência bastante mercantilizada que criava vínculos de comércio intraprovinciais, e um setor de transformação expressivo em algumas partes da província.
Para Paiva (1988),
“A tese da diversificação e do dinamismo da economia mineira é o ponto principal que este estudo reafirma. As evidências deste dinamismo são múltiplas. A presença de alargada e complexa base produtiva reflete uma economia que está em avançado estágio de reestruturação, a mineração há muito perdeu sua posição de atividade nuclear e o resultado não é o tão decantado fenômeno da decadência que se manifesta através da desorganização produtiva, fuga de população e o retrocesso para uma economia de subsistência.
A dinamicidade manifesta-se também no crescimento populacional, na grande presença de escravos, na pujança das atividades mercantis e nos expressivos vínculos com mercados externos. A economia de subsistência mercantilizada não era a forma predominante em Minas, ainda que bastante disseminada e ocupando parcela significativa da população. O setor exportador mineiro não era inexpressivo ou pouco
importante, ao contrário, ocupava a maior parte da população e constituía-se no centro dinâmico da economia; e era bastante complexo com uma pauta de produtos bem mais diversificada.” (PAIVA, 1996, p. 164-5)
A partir das listas nominais de habitantes, Paiva chega a uma estimativa de população para a Província de Minas na primeira metade do século XIX. No panorama regional proposto por Paiva para as Minas Gerais oitocentista, os municípios e distritos que compreendem as Minas do Ferro estariam localizados nas regiões Mineradora Central Leste e Mineradora Central Oeste.
Os inventários consultados em nossa pesquisa compreendem a área de alguns dos distritos classificados por Paiva. Na região Mineradora Central Leste temos os distritos de Antônio Dias Abaixo, Santana dos Ferros, São Domingos do Prata, Joanésia, Santa Maria, Arraial de Santana do Alfié e São José da Alagoa.
Já na região Mineradora Central Oeste encontram-se os distritos de Cocais, Santa Bárbara, São Gonçalo do Rio Acima, São João do Morro Grande, São Miguel e Itabira do Mato Dentro. Esses distritos, no período em que foram analisados por Paiva através das Listas Nominativas de 1831/1832, faziam parte dos Termos da Vila de Caeté e da Vila Nova da Rainha.
Contudo, é importante destacar que nossa regionalização não obedece a proposta de Paiva. Nossos critérios de regionalização não seguem apenas aspectos econômicos que podem configurar espaços muito abrangentes para o objetivo de nosso trabalho. A metodologia e resultados da autora são postos aqui como forma de comparação de dados de uma dinâmica demográfica das Minas do Ferro, fazendo-se as devidas considerações quanto aos espaços em questão.
A região Mineradora Central Leste apresenta um nível de desenvolvimento médio e compreendia cerca de 1/3 dos habitantes da Província. Estes se concentravam na porção ocidental da região, que ainda apresentava muitas áreas de Mata Atlântica. Apresenta maior número de homens que mulheres entre a população livre.
Entre as principais atividades econômicas, a autora aponta para o cultivo de algodão, em parte tecido na própria região e o restante comercializado em áreas próximas – exportavam víveres para a região de Diamantina.
A mineração ainda era ativa em algumas áreas. Nesta área, a forma de trabalho predominante era o escravo. (PAIVA, 1996, p. 145-50).
A maior parte dos distritos analisados nesta pesquisa integra a chamada a região Mineradora Central Oeste. Trata-se das áreas de povoamento mais antigo, ligado ao período áureo da mineração no século XVIII, com uma rede urbana mais estruturada. Apresenta alto nível de desenvolvimento e os mais altos índices de população da Província. Havia a predominância de mulheres entre a população livre e dos homens entre os cativos. A mineração ainda se faz presente, mas divide espaço com outras atividades, como o comércio, a produção agropecuária e as atividades de transformação.
Como a transformação do ferro, que é o foco deste trabalho, neste sentido, via-se que o trabalho escravo ainda era importante nessa área, mas tais atividades complementares ou extra mineração poderiam abrigar também mão-de-obra livre.
No que se refere ao nosso espaço de análise e fontes consultadas e quantificadas, buscamos informações nos censos provinciais de 1833 e 1872 e nos inventários post-mortem, entre 1813 e 1888, para tentar estabelecer um quadro socioeconômico e demográfico de nossas Minas do ferro.
Isto porque, para entender os efeitos que o ofício de ferreiro teve sobre a experiência cotidiana dos escravizados e libertos que o praticavam, é preciso compreender as peculiaridades do local em que essas artes do ferro se desenvolveram com mais êxito.
Nesse sentido, os relatórios apresentados pelos presidentes das Câmaras de Itabira e Santa Bárbara ao presidente da Província de Minas Gerais, em 1854, foram fundamentais para nossa compreensão desse espaço. A partir desses três momentos – 1833, 1854 e 1872 – pudemos perceber como se deu a evolução socioeconômica e demográfica das Minas do ferro no Oitocentos.6
A partir das informações do Censo de 1833, vistos em conjunto com dados dos inventários post-mortem, pudemos perceber a composição dessa população nos primeiros anos do século XIX, observando a presença africana e a tipologia das relações conjugais estabelecidas entre a população de africanos e seus descendentes.
Nesse primeiro momento, já se nota o predomínio da população de africanos e afrodescendentes para o todo da população nos dois núcleos (Itabira e Santa Bárbara).
Havia, entre os brancos, certo equilíbrio na razão dos sexos; situação não vivenciada pelos africanos, o que demonstra ser o tráfico negreiro ainda importante na reposição dessa escravaria. Entre essa parcela da população observa-se também maior incidência de livres entre as mulheres. Elementos que apontam para uma escravidão predominantemente masculina nas Minas do ferro, nos primeiros anos do Oitocentos.7
Os relatórios elaborados pelo Presidente da Província, entre 1854 e 1855 nos deram indícios para verificar de que maneira a extração aurífera foi afetada nas Minas do ferro, num momento em que se mostrava escassa em outros centros mineradores de povoamento antigo, como Vila Rica.
De onde se observa que, ainda na primeira metade do século XIX, a mineração do ouro continua remetendo lucros aos proprietários de lavras de Itabira e passa a disputar atenção e investimentos com a extração do ferro.
A diversificação das atividades econômicas também se mostra presente nessa área. É possível perceber a tendência à agromineração já apontada pela historiografia para outras regiões da Província. O grande número de vendas e tabernas aponta para a existência de um setor mercantil ativo e de uma população capaz de consumir os produtos ali expostos.8
Analisando as características da estrutura da propriedade escrava nas unidades produtivas dessa área, estas foram classificadas em unidades produtivas de roceiro (sem descrição de cativos ou com até 10 cativos) e unidades produtivas de fazendeiros (com mais de 10 cativos). A partir daí, nota-se que nas Minas do ferro as unidades de roceiros eram mais frequentes, indicando a tendência à difusão da propriedade escrava.
Mas as forjas e tendas de ferreiros foram encontradas nas fontes dessa pesquisa em um número maior de unidades de fazendeiros. Estes, certamente buscavam através das atividades de produção e transformação do ferro, uma maneira de diversificar seus investimentos e fornecer a suas propriedades os instrumentos para a lide agrícola, diminuindo assim a necessidade de importação do produto.
A partir da segunda metade do século XIX, observam-se números mais próximos entre os índices de homens e de mulheres da população de africanos e seus descendentes, mas mantém-se o predomínio das mulheres entre os livres.
Nos dados do censo de 1872, percebemos uma inversão ao quadro apresentado no início do século para a composição de sua população: neste momento predominavam homens e mulheres livres.9
Efeito do fim do tráfico transatlântico e das alforrias, que certamente se fizeram presentes. A população africana mostra-se reduzida e envelhecida, reforçando o impacto que o comércio internacional de cativos teve para a composição desse contingente populacional nas
Minas do ferro. Ainda assim, a população de pardos e pretos é significativa, compreendendo quase a metade dos habitantes de Itabira: o que é um indício da reprodução natural dessa população.
3. O ofício de ferreiro: aprendizagem, tratos de trabalho e espaços de autonomia
Para compreender os efeitos que a prática das atividades de transformação do ferro proporcionou a parcela da população de africanos e afrodescendentes em uma área cuja economia continuava marcada pela escravidão, com tendência à agromineração e em processo de diversificação econômica, é preciso pensar de que forma tais escravizados e libertos ferreiros foram inseridos em uma sociedade escravista, como as Minas do ferro do século XIX.
Deve-se também investigar os significados do trabalho manual para todos os grupos sociais que nele se
envolveram: homens livres, forros e escravizados. Precisamos estar atentos para a natureza dessas relações no âmbito de sociedade delineada pela instituição da escravidão.
Silvia Hunold Lara (2007) responde a algumas dessas questões ao se ater aos significados da expressiva presença de cativos na América Portuguesa. Analisando as impressões deixadas nos relatos de viajantes e na documentação da administração colonial, a autora apresenta importante contribuição acerca de como a “multidão de pretos e mulatos” era percebida pelos homens brancos e que representações faziam de si mesmos esses africanos e seus descendentes.
Reconhecendo as redes hierárquicas – aos moldes do Antigo Regime europeu – que se faziam presentes no mundo colonial, ao analisar a documentação oficial que remete às relações de poder no Brasil escravista, Lara não perde de vista as especificidades que caracterizavam a vida em colônias.
“No caso português e de suas colônias na América, há pelo menos duas
dimensões importantes a considerar: a das relações constitutivas do Império colonial português e das relações escravistas propriamente ditas. Certamente elas nos levam para universos distantes da nobreza e dos grandes pela distinção e pela fortuna, mas não alheios a eles. O desafio (…) é caminhar de uma dimensão a outra, mostrando como estavam articuladas. Partindo das análises que contemplam as distinções baseadas no nascimento e na distribuição de privilégios, pretendo discutir a diferença imposta pela presença da escravidão em terras coloniais. (LARA, 2007, p. 81)
Lara observa que para os administradores coloniais a grande quantidade de africanos, criolos e mestiços perambulando pelas ruas das cidades coloniais poderia ter resultados perniciosos. O crescimento desse contingente populacional no período é resultante da própria demanda do tráfico atlântico e da prática das alforrias, que se tornava recorrente entre os senhores.10
A autora destaca que, nas fontes consultadas, não há em nenhum momento o questionamento acerca da instituição da escravidão em terras coloniais. Há, em alguns documentos, uma preocupação com a maneira como se deveria tratar os escravizados, seja por razões práticas, jurídicas ou cristãs. Mas a escravidão é vista como legítima e necessária ao desenvolvimento da colônia, desde que se praticasse o cativeiro justo.
Analisando a carta enviada pelo Conde de Resende ao Secretário dos Negócios Estrangeiros e da Guerra, Souza Coutinho, Lara destaca que a preocupação do remetente era maior quanto aos libertos.
Para Resende, nada podia ser feito em relação aos escravizados, uma vez que estes estavam sob o poder senhorial, subordinados ao domínio doméstico. Mas os libertos que agiam no espaço público deveriam ser corretamente inseridos às normas de posturas da sociedade colonial. O enquadramento dos libertos, segundo Resende, era necessário para que se pudesse promover o bem comum. Para isto, ele propõe uma série de medidas que visavam submeter os libertos residentes nas cidades ao poder do Estado:
“(…) os que não tivessem ofício, fossem solteiros e de idade competente seriam recolhidos em uma “casa de correção”, onde residiriam, aprenderiam um ofício e trabalhariam para seu próprio sustento; os “vadios e viciosos” seriam remetidos para o continente do Rio Grande, Santa Catarina e Cantagalo, para serem empregados na agricultura e na criação de gado; os casados também seriam empregados “fora da cidade”, a semelhança do procedimento adotado com os casais vindos das Ilhas e enviados para as regiões do sul. As mulheres seriam igualmente registradas. As que fossem honradas e estivessem ligadas
a uma família poderiam permanecer como estavam. As que vivessem “sobre si” seriam enviadas para outra casa de correção, para aprender “alguma ocupação própria do seu sexo”. (LARA, 2007, p. 16)
Observa-se que a preocupação de Resende não se refere à escravidão em si, mas aos libertos, que deveriam ter suas vidas sob o controle das autoridades, adequando-se ao convívio com aqueles de condição jurídica superior, para viver nas cidades, sem causar danos ao bem comum.
Pelas determinações de Resende citadas por Lara, podemos inferir que possuir um ofício mecânico era uma maneira desses libertos se adequarem às redes hierárquicas da sociedade escravista do Brasil. Isto porque as correções se destinavam, entre outras situações, para “os que não tivessem ofício”. Também aqui, vê-se uma associação entre os artífices e o universo dos homens livres, ainda que indiretamente.
Isto é, o Conde Resende manifesta-se preocupado com as ações que o Estado deveria ter sobre os libertos, para que esses pudessem portar-se adequadamente no espaço público junto aos livres.
Dessa forma, a solução encontrada para aqueles que não tivessem domínio sobre nenhum saber mecânico, seria o recolhimento a casas de correção, onde “aprenderiam um ofício e trabalhariam para seu próprio sustento”.
Isto significa que o ofício é o que tornaria esse liberto apto a conviver no mundo dos livres. Ao proibir o uso desses tipos de insígnias pelos libertos, a administração portuguesa mostrava-se insensível aos significados que teriam tais símbolos de distinção em uma sociedade marcada pela diversidade, como era a América portuguesa. O uso desses elementos tornava-se necessário para homens e mulheres forros que tinham na cor da pele uma perigosa relação com a realidade do cativeiro.
Em uma sociedade característica de Antigo Regime, na qual as redes hierárquicas implicam em formas visuais de distinção, da mesma maneira que os homens brancos buscavam marcar sua posição social, os libertos tentavam se distinguir dos escravizados. Ainda que a cor de sua pele denunciasse sua ligação como um passado em cativeiro, o seu ou o de seus ascendentes.
Pensemos então que efeitos tais redes hierárquicas da sociedade escravista teriam na prática dos ofícios mecânicos, como o ofício de ferreiro entre escravizados e libertos nas Minas do ferro oitocentista? Trata-se de uma sociedade que ainda traz algumas das marcas das redes hierárquicas e da necessidade da distinção discutidas por Lara.
Para o cativo, o aprendizado de um ofício pode possibilitar a ele uma forma de adquirir pecúlio, trabalhando por jornal, e lhe abriria condições para a compra de sua alforria. Além disso, uma vez que tal saber artesanal não era transmitido a todos os escravizados de um mesmo proprietário, o ingresso em um ofício mecânico o torna distinto dos demais. Uma distinção marcada por uma possibilidade de se afastar do mundo da escravidão e que lhe ofereceria uma perspectiva de liberdade que não se estendia a todos os outros cativos.
Em caso da compra da alforria se confirmar, esse forro poderia utilizar-se do conhecimento técnico que adquiriu no cativeiro para ganhar seu sustento e se inserir no mundo dos livres. Lembrando das orientações do Conde de Resende para se adequar os libertos à ordem da sociedade colonial, a prática de um ofício representaria para esse ex-cativo uma forma de se integrar ao modo de vida considerado pelas autoridades adequado aos centros urbanos.
A perspectiva de Castro (1988) também reforça nossa proposta ao considerar que, no mundo do escravismo brasileiro, os cativos tinham o interesse em buscar alternativas que garantissem-lhes melhores condições de sobrevivência dentro das possibilidades dadas pelo regime.
Para além da discussão referente à formação de laços de parentesco, seguindo ou não as características étnicas, a autora aponta para a disputa existente entre os cativos para adquirir os recursos disponíveis para obter melhores resultados no enfrentamento da experiência do cativeiro.
Assim, os escravizados que possuíssem tais recursos – a prática de um ofício mecânico pode ser vista como um destes recursos – não tratariam os demais escravizados como parceiros. Buscariam oportunidades de se aproximar do mundo dos livres, de acumular bem materiais que lhes permitissem buscar a alforria, mas, ao mesmo tempo, atenuar seu caminho até esta. Sua identificação seria muito maior então entre outros escravizados que dispusessem dos mesmos recursos.
O que verificamos nos casos analisados para as Minas do Ferro, a partir da Lista nominal de habitantes, de 1840, é que os domicílios de ferreiros, em sua maioria, não continham muitos indivíduos praticantes desse ofício. De modo que, como enfatizado anteriormente, a prática e aprendizagem do ofício se dava pela convivência com os artesãos do ferro no exercício de seu trabalho. O ofício de ferreiro representava para os cativos, como vimos, uma maneira de conquistar autonomia frente à rotina de suas atividades. Da mesma forma, os libertos – africanos, criolos e pardos ferreiros – tinham a partir de seu saber mecânico uma forma de reafirmar perante o mundo dos livres sua nova condição.
Assim, a prática de um ofício poderia representar para este uma forma de se distinguir dos demais cativos. Uma distinção ligada a autonomia do trabalho que a prática de um ofício permitia a esses escravizados; seu trabalho passa a ser guiado pelo próprio ritmo da produção; a fundição e a forja impõem a esse cativo uma experiência de tempo e de trabalho que não é a mesma dos outros integrantes do seu cativeiro. Experiências que os aproximavam ao mundo dos livres, a partir de suas práticas e como um horizonte de expectativas.
Para evidenciar tais situações, iremos considerar as trajetórias de alguns desses ferreiros, identificados em nossas fontes, nesse processo de vida em cativeiro e busca pela liberdade. São eles: Custódio, Manoel e Cândido.
Os escravizados ferreiros Custódio e Manoel foram encontrados no inventário do Capitão José Carlos Marques. Seus herdeiros do primeiro matrimônio são Manoel Carlos Marques, Joaquim Barboza Marques e José Carlos Marques. Do segundo casamento ficaram os filhos Antônio Jorge Marques e Vicente Ferreira Marques. Falecendo em 1835, o Capitão foi morador no arraial de São Gonçalo do Rio Abaixo e teve seus bens inventariados em 1837
por seu filho Antônio Jorge Marques.
Entre esses bens, encontramos: uma parte numa fazenda de cultura em Socorro, no valor de 120$000, metade da fazenda Galega, avaliada em 500$000. Outra fazenda denominada Christina pela quantia de 150$000, uma morada de casas de sobrado no valor de 200$000, três praças na fazenda Paiol avaliadas em 100$000, doze cativos, entre eles, os oficiais de ferreiro Custódio e Manoel. Custódio, crioulo, tinha então 31 anos, era solteiro e foi avaliado em 600$000. E Manoel, também crioulo e solteiro, de 38 anos, avaliado em 700$000.
A dúvida sobre a quem caberia a posse desses dois cativos na partilha dos bens entre os herdeiros rende várias páginas de declarações e petições no processo de inventário do Capitão Marques.
O Capitão Marques era também proprietário de uma morada de casas de sobrado em São Gonçalo do Rio Abaixo, avaliada em 200$000. Em terras minerais, declara a posse de 3 (três) praças na fazenda Paiol no valor de 100$000. O destino dos dois escravizados é diferente, mas ambos são pivôs de disputas entre os herdeiros do finado Capitão. Entre esses herdeiros, temos Manoel Carlos Marques, Joaquim Barbosa Marques e José Carlos Marques, filhos do primeiro casamento do Capitão Marques e Antônio Jorge Marques – que foi o inventariante de seu pai – e Vicente Ferreira Marques, filhos do segundo casamento.
Custódio era crioulo, tinha 31 anos no momento do inventário de seu senhor, era solteiro, foi descrito como oficial ferreiro e avaliado na quantia de 600$000. Ele seria um dos motivos pelos quais o herdeiro José Carlos Marques promoveria uma ação judicial de execução contra seu irmão e inventariante de seu pai, Antônio Jorge Marques. O herdeiro José Carlos exige no processo de inventário o pagamento de parte de sua legítima materna que ficara faltando no momento do inventário de sua mãe. Para tanto, exige receber na partilha dos bens os escravizados Serafim e Ambrósia e o ferreiro Custódio. A respeito deste, nas palavras do reclamante José Carlos Marques:
“Diz José Carlos Marques que promovendo uma execução contra seu irmão Antonio Jorge Marques pela quantia de 845$000 que lhe ficou devendo o falecido pai comum o Capitão José Carlos Marques da legítima materna que coube ao Supll. como herdeiro de sua falecida mãe Antonia Maria de Jesus, se acha contratado e convencionado com o dito Jorge e outros seus irmãos do 1º e 2º matrimônio em receber do Supp. por conta da mesma legítima o escravo Custódio oficial de ferreiro no preço de 600$000 em que foi avaliado o inventário e o resto que são 245$200 e mais 160$000 que concordaram lhe cabia na 4ª parte no valor de 2 escravos, Joam e Boaventura, que depois da morte de sua Mãe o Pai comum recebe como dote, que lhe prometera seu sogro, receberia em dinheiro das mãos de seus irmãos do 2º matrimônio Antonio Jorge e Vicente Ferreira Marques, adjudicando-se-lhe bens no inventário para indenização da referida quantia, logo, que nele apresentar recibo seo Suppl. e que assim mesmo lhe ficaria pertencendo uma praça e meia, metade da Fazenda do Gadejo, que foi inventariada no valor de 62$188 em compensação do que o dito seu pai recebeu pelos jornais dos mesmos escravos, e que quanto a herança deste aceitaria a benefício do inventariante para que assim se observe e fique constando nos autos”.11
A contenda entre os herdeiros se refere a bens que teriam sido adquiridos pelo Capitão Marques quando ainda era casado com Antonia Maria de Jesus: os escravizados Joam e Boaventura, dos quais José Carlos requer também a parte dos jornais pagos a seu pai, parte em praças na Fazenda do Gadejo e o cativo Custódio. O interessante é que, na solução do conflito, Antonio Jorge paga a seu irmão 62$499 pelas praças, 500$000 pela metade da fazenda e um pecúlio de 308$000, mas o escravizado Custódio fica em sua propriedade. Isto é, mesmo fazendo parte da legítima materna dos herdeiros do primeiro casamento, Custódio, oficial de ferreiro, na partilha, fica entre os bens que pertenceriam a Antônio Jorge.
O inventariante prefere pagar em dinheiro a parte que cabia ao herdeiro José Carlos sobre o dito cativo que abrir mão de seus serviços. Não houve o mesmo interesse de Antônio Jorge em ficar com os outros escravizados Joam e Boaventura, nem mesmo em relação às terras agrícolas e minerais que estavam em disputa. Certamente fora o ofício de ferreiro praticado por Custódio que direcionara a preferência e os esforços do inventariante.
No mesmo processo de inventário, Antônio Jorge Marques, concede a alforria a Manoel, pagando o valor do escravizado a seus irmãos para que esses não contestassem a liberdade do ferreiro:
“Diz Antonio Jorge Marques e Vicente Ferreira Marques, herdeiros do casal dos falecidos seus pais Capitão José Carlos Marques e D. Antonia Maria de Jesus, que procedendo –se o inventário dos bens do mesmo casal foi avaliado o escravo Manoel crioulo, na quantia de setecentos mil réis, para que os Supll. tem motivos para o beneficiar lícita a quantia de cem réis sobre essa avaliação dele para forro, imputando-se o seu valor nos quinhões da herança dos Supll., e não duvida assinar o termo em que desde já o declaram forro e liberto. E para que assim se verifique.12
Podemos apenas especular sobre as razões que os herdeiros Antônio e Vicente teriam para conceder a liberdade ao ferreiro Manoel, uma vez que no processo de inventário não encontramos nenhum elemento ou informação que explicitasse as motivações dessa medida. Nenhum dos outros 12 escravizados inventariados foram agraciados de tal forma. Daí também se justificaria o empenho de Antônio Jorge em ficar com o ferreiro Custódio. Alforriava Manoel, mas continuaria tendo sob suas ordens e interesses outro oficial ferreiro.
É possível que os serviços prestados por Manoel através de seu ofício tivessem permitido a ele negociar com tais herdeiros sua liberdade. Não há indicações da existência de tenda de ferreiro entre os bens listados no inventário do Capitão Marques, o que nos permite considerar que Manoel exercia seu trabalho fora da unidade produtiva de seu proprietário. Podia trabalhar para um dos herdeiros do capitão. Também poderiam trabalhar por jornal para outros senhores, homens livres, convivendo no exercício de sua prática com diversos outros artífices do ferro, entre brancos, crioulos, livres, pardos e africanos, escravizados e libertos.
A experiência da liberdade, que já era algo vivenciado enquanto expectativa e pela autonomia de trabalho que seu ofício de ferreiro permitia, estava intimamente ligada ao seu modo de vida. Dava-lhes possibilidades que não estavam disponíveis para todos os outros cativos de seu senhor. E consolida-se a partir da alforria declarada pelos herdeiros Antônio Jorge e Vicente no referido processo de inventário.
Outro caso a ser discutido aqui é o do ferreiro Cândido, descrito por cor preta, idade de 44 anos, oficial de ferreiro. Trata-se de um contrato de locação de serviços e coartação, registrado junto à Câmara Municipal entre o locatário Joaquim Veríssimo de Barcellos e o locador, o cativo ferreiro Cândido, aos dez dias do mês de março de 1888. Por este contrato, Joaquim Veríssimo e Cândido assinam entre si um termo de concessão de liberdade, através do qual o último seria libertado pelo pagamento da quantia de duzentos mil réis e por serviços prestados por dois anos a partir da data do contrato. Pelo termo de locação, Cândido poderia substituir os dois anos de serviços a serem prestados a Joaquim Veríssimo pelo pagamento em dinheiro de trezentos e setenta e seis mil réis. Essa condição é expressa no contrato, como se vê
a seguir:
“Aos nove dias do mêz de março de mil oitocentos de oitenta e oito, nesta Cidade de Itabira, em casas de residência do Senhor Pacífico Gusmão de Oliveira Lima, Juiz de Órphãos, onde eu escrivão vim e sendo ali presentes o Curador a ele nomeado, compareceu Joaquim Veríssimo de Barcellos , a companhia de seu escravo Cândido, de cor preta, de idade de quarenta e quatro anos, official de ferreiro, matriculado sobre os números hum mil e quarenta e nove da nova matrícula e dous da relação e diz que tendo contratado com o dito seo escravo ali também presente conceder-lhe a liberdade mediante o adiamento da quantia de duzentos mil réis (…) de prestar-lhe o mesmo serviço pelo prazo de dous anos a contar se da data deste contrato, dos quais poderá remunerar se preferir pagar lhe em dinheiro a quantia de trezentos e setenta e seis mil réis e tendo o mesmo escravo declarado pela pessoa de seo curador a dote que aceita esse contrato ficando lhe saber o direito de resgatar desse em qualquer tempo, pagando a seo senhor em dinheiro o tempo que falta proporcionalmente a quantia estipulada para todo (…) que lhe concede a sua liberdade, salvo as cláusulas do contrato e requer ao Meretíssimo Juiz, ouvidos a respeito o dito escravo e o curador (…) se lavrar esse termo passando por todos assignado e homologado pelo Juiz e pedindo se depois carta de liberdade. E pelo escravo Cândido que se achava ali presente foi dito que aceitava e promete cumprir o presente contrato, sujeitando se as penas legais se quebra lo e pelo curador deste foi dito que por sua parte concordava, pelo que ficou o Juiz por ser bom e válido esse contrato e por ter essa validade, mandou lavrar esse presente termo, que assigno com as pessoas presentes e (…) do escravo por não saber assignar seu nome assigna o advogado. Eu, Antonio Cezario da Costa Lage, escrivão de Órphãos que escrevi”.13
O estado de conservação do documento impediu que algumas pequenas partes neste trecho não fossem transcritas. Contudo, a compreensão do documento não foi prejudicada por este inconveniente.
Embora o contrato tenha sido assinado no ano da abolição da escravidão, e, portanto, não tenha sido cumprido até o final, é inegável a importância que o ofício de ferreiro teve para que Cândido o pudesse assinar. A concessão de sua liberdade pode ser imediata desde que pague em dinheiro o valor de seus serviços pelo prazo de dois anos.
Na verdade, Candido se compromete, sob às penas da lei, em trabalhar por esta período para Joaquim Veríssimo. Contudo, destaca-se que pelo contrato, visto ser perito oficial de ferreiro, Cândido teria condições reais de se tornar livre e sem vínculos com o seu antigo senhor no momento da assinatura deste.
Visto ser oficial de ferreiro, Cândido acumulou, a partir de seu saber mecânico, a quantia exigida por sua alforria neste termo de concessão de liberdade, a ponto de, após isso, seu antigo senhor torna-se seu locatário, alugando seus serviços. Serviços esses que Cândido prestaria então como homem livre.
A partir dessas trajetórias, casos particulares e das informações referentes à localização dos domicílios com presença de artífices do ferro, podemos vislumbrar algumas características do ofício de ferreiro praticado por africanos seus descendentes, entre escravizados e libertos nas Minas do ferro do século XIX.
Observamos haver o predomínio de indivíduos solteiros entre os ferreiros de condição cativa e de casados entre os ferreiros livres. Aparentemente, haveria uma tendência a casamentos endogâmicos entre esses ferreiros: casavam-se como mulheres da mesma cor, condição jurídica e que também exercessem uma ocupação ligada ao mundo prático. A conjugação ferreiro-costureira apareceu em nossas fontes em várias situações.
Contudo, essa afirmação precisa ser verificada em fontes mais consistentes – como registros de casamento, por exemplo – mas já indicam uma preocupação por parte desses ferreiros em criar em torno de si uma situação de estabilidade e plena autonomia que os tornasse aptos a viver como livres. No que se refere à localização desses ferreiros no espaço urbano de Itabira, a relação nominal dos habitantes da cidade, para o ano de 1840 nos apresentou dois polos principais de concentração desses artífices: o 3º e os 10º, 11º quarteirões.
Trata-se de áreas que estão nos caminhos que ligam Itabira a duas regiões importantes economicamente no período. Do 3º quarteirão, que, acreditamos nas proximidades da Rua de Baixo, área central da cidade, segue-se ao Caminho Novo, rota de acesso para São José da Alagoa, São Miguel – onde havia uma das mais importantes fábricas de ferro da região, a fábrica do alemão João Monlevade.
O 12º quarteirão se localizaria nas proximidades dessa área em direção a São José da Alagoa e a Forja de São José. De forma que, podemos considerar que haveria uma tendência desses ferreiros em se concentrarem em áreas que fossem rotas de passagem de tropeiros, saídas da cidade em direção a outros núcleos populacionais, áreas com presença de matas, jazidas de minério de ferro e fontes de água e/ou caminhos de acesso a instalações maiores de fundição de ferro, como as Forjas do Girau, do Onça, de São José e a de João Monlevade. 14
É preciso lembrar que a atuação dos ferreiros não se dava apenas nas fundições e forjas. Havia uma infinidade de tendas de ferreiros na região, onde os ferreiros podiam fazer remendos em instrumentos agrícolas, utensílios domésticos, materiais da tropa desgastados pelo tempo e pelo uso. Seria produtivo para eles então estar próximos aos caminhos por onde esses tropeiros e ambulantes passavam quando estivessem em Itabira.
A aprendizagem do ofício de ferreiro apresentou dois tipos de situações principais, evidenciadas por nossas fontes: a aprendizagem ligada ao ambiente doméstico, partilhada por vários elementos de uma mesma família e a aprendizagem ligada ao modo de vida dos indivíduos, que se fazia pela prática, pela convivência com outros ferreiros.
Este último foi o meio mais comum verificado. Conviviam, no exercício prático de seu ofício, brancos, crioulos, pardos, africanos, livres, libertos e cativos. Os casos analisados nesse artigo reforçam a proposta de que o ofício de ferreiro proporcionava a esses artífices, escravizados e libertos, uma maior autonomia de trabalho que muitas vezes se convertia em experiências de liberdade, antes mesmo da conquista da alforria. E consolidavam essa experiência quando se tornavam libertos.14
A análise das confrontações da Lista Nominal de 1840 em conjunto com outros dados que tivemos acesso recentemente (Atas da Câmara Municipal e Relatórios dos fiscais da Câmara de Itabira, por exemplo) nos permitiu
identificar com maior detalhamento e clareza alguns desses quarteirões, assim como realizar adequações a respeito de algumas hipóteses sobre a localização desses logradouros em trabalhos anteriores.
Para os escravizados, o ofício lhes permitia uma rotina de trabalho diferenciada dos outros cativos de seu senhor. A fundição e a forja do ferro tinham ritmos próprios que tais ferreiros seguiam; a partir disso, ganhavam autonomia. Pela prática do ofício conviviam com outros artífices, muitas vezes de condição jurídica superior, e na figura destes vislumbravam um horizonte de liberdade que o seu ofício poderia tornar possível.
Para os libertos, o mundo dos livres permanecia cheio de armadilhas, onde a cor de sua pele poderia associá-lo perigosamente a seu passado em cativeiro. Precisava mostrar-se apto ao convívio com os brancos, garantir às autoridades que era capaz de ganhar seu próprio sustento. O ofício de ferreiro abria-lhe essas possibilidades. A partir dele, a liberdade experimentada a partir do ritmo dos trabalhos com o ferro, enquanto ainda cativo, consolidava-se quando liberto.
Notas
1 Doutoranda em História pela Universidade Federal de Ouro Preto.
2 Existem outras propostas de regionalização para o espaço das Minas Gerais oitocentistas. Um dos mais recorrentes é o de Clotilde Paiva (1996). Embora citemos as regiões de Paiva, ao apresentarmos os dados sobre as Minas do ferro, veremos que nossa proposta combina elementos geográficos e socioeconômicos, de modo a delimitar um espaço a partir das práticas culturais que nele se desenvolvem.
3 Alguns dados acerca da evolução administrativa desses espaços ao longo do século XIX: A povoação de Itabira do Mato Dentro data das primeiras décadas do século XVIII. Alguns atribuem a 1705 a instalação da Capela filial de Nossa Senhora do Rosário, pertencente ainda a Santa Bárbara. A freguesia de Itabira é criada em 1825, com criação da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Itabira, já desmembrada de Santa Bárbara. O município, desmembrado de Caethé por resolução de 30 de junho de 1833, tem a posse de sua primeira Câmara em 30 de outubro de 1833. A elevação à Cidade de Itabira ocorre em 09 de outubro de 1848, pela Lei Provincial Nº 374.
Ver: APMI, Documentos Avulsos. O Recreador Mineiro, 1845, p.146-147.
4 O viajante chega a sugerir ao guarda-mor Inocêncio de Catas Altas para abandonar a exploração do ouro e investir na de ferro. Mas o guarda – mor argumenta que a região circunjacente era desprovida de matas. Cf. SAINT-HILAIRE, 1974, nota. 121. p. 91.
5 Sobre o debate historiográfico acerca da economia mineira oitocentista, ver: ALMEIDA, 1994; LINHARES, 1979; LUNA e CANO, 1983; MARTINS, 1980; PAIVA, et al., 1988; ANDRADE, 2008.
6 APMI, Inventários post mortem. 1813-1888. Foram 776 processos de inventários post-mortem, analisados e quantificados, a partir dos quais pôde-se observar aspectos diversos da região das Minas do ferro, tais como: estrutura de posse de cativos e características das unidades produtivas (roceiros ou fazendeiros), presença de ferramentas das atividades de transformação do ferro e disseminação das atividades por “tendas de ferreiros”, características da população escravizada, prática de ofícios mecânicos entre os escravizados e possibilidades de aprendizagem de ofícios entre essa população.
7 APM, Censo da Província de Minas Gerais. Município de Itabira. Distrito da Vila. 1833. MP – Cx.01 – Doc 17; APM, Censo da Província de Minas Gerais. Município de Itabira. Distrito de Santa Bárbara. 1833. MP – Cx.01 –Doc 17.
8 APM, Mapa Demonstrativo das Freguesias, Quarteirões, Lojas, Boticas, Tavernas, Engenhos e mais como do mesmo se vê pertencente ao Município de Itabira que presta o Juiz Municipal do mesmo Município á
Excelentíssima Presidência da Província. 1855. Seção Provincial SP 570 [403].
9 APM, Quadro Geral da População da Paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Itabira. Recenseamento da População do Brasil de 1872, Minas Gerais. Cx. 03 [160-165]; APM, Quadro Geral da População da Paróquia de Santo Antonio do Ribeirão de Santa Bárbara. Recenseamento da População do Brasil de 1872, Minas Gerais. Cx. 03 [136-138].
10 Lara argumenta que, embora fossem alvo de preocupação frequente na documentação, a prática das alforrias seguiam uma lógica seletiva. Mulheres vindas da África Ocidental, envolvidas no comércio urbano, eram as maiores agraciadas. Entre os homens, havia um predomínio dos libertos entre os crioulos. (LARA, 2007, p. 128).
11 APMI, Inventários, Inventário de José Carlos Marques. 1837. Cx. 10. Fl. 38.
12 APMI, Inventários, Inventário de José Carlos Marques.1837. Cx. 10. Fl. 35.
13 APMI, Fundo da Câmara. Documentos relativos à escravidão e outros, Contrato de Locação de Serviços e coartação. Cx. 03. O estado de conservação do documento impediu que algumas pequenas partes neste trecho não fossem transcritas. Contudo, a compreensão do documento não foi prejudicada por este inconveniente.
14 A análise das confrontações da Lista Nominal de 1840 em conjunto com outros dados que tivemos acesso recentemente (Atas da Câmara Municipal e Relatórios dos fiscais da Câmara de Itabira, por exemplo) nos permitiu
identificar com maior detalhamento e clareza alguns desses quarteirões, assim como realizar adequações a respeito de algumas hipóteses sobre a localização desses logradouros em trabalhos anteriores. Essas adequações, contudo, não alteram as conclusões gerais de tais trabalhos, referentes às características das áreas em que se concentravam os domicílios de ferreiros. Isto é, as áreas com maior concentração de ferreiros se localizavam geralmente em: áreas centrais da cidade, onde a presença de casas de comércio e serviços seria maior; saídas da cidade em direção a outros núcleos populacionais, com fluxo de passagem de tropas; áreas próximas a fontes de água, matéria-prima e matas e pontos de acesso a instalações maiores de fundição de ferro. Assim, os dados consultados recentemente acerca da localização de alguns desses quarteirões, apenas nos permitem ter uma definição mais específica e comprovada da localização dos quarteirões no espaço urbano de Itabira, em relação às ruas e saídas da cidade.
Referências Bibliográficas
ALMEIDA, Carla. Alterações nas Unidades Produtivas Mineiras: Mariana – 1750-1850. Niterói. Dissertação (Mestrado). Universidade Federal Fluminense, 1994.
ANDRADE, Francisco Eduardo de. Entre a Roça e o Engenho: roceiros e fazendeiros em Minas
Gerais na primeira metade do século XIX. Viçosa, MG: Ed. UFV, 2008.
CASTRO, Hebe Maria da Costa Mattos. Das cores do silêncio: os significados da liberdade no
sudeste escravista. Brasil, século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
DE LA BLACHE. Vidal. Princípios de Geografia Humana. Lisboa: Ed. Cosmos, 1954.
LARA, Silvia Hunold. Fragmentos Setecentistas: escravidão, cultura e poder na América
portuguesa. Sâo Paulo: Companhia das letras, 2007.
LIBBY, Douglas Cole. Transformação e Trabalho em uma economia escravista, Minas Gerais
no século XIX. Editora Brasiliense, 1988.
LINHARES, Maria Yedda L O Brasil no século XVIII e a Idade do Ouro: a propósito da
problemática da decadência. Seminário sobre cultura mineira no período colonial. Belo
Horizonte, Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais, 1979.
LUNA, Francisco Vidal e CANO, Wilson. Economia Escravista em Minas Gerais. Cadernos IFCH. Campinas: UNICAMP, n.10, out., 1983.
MARTINS, Roberto Borges. Growing in the silence: the slavery economic of the ninetheenty
century in Minas Gerais (Brazil). Nashvill. Tese (Doutorado). Vanderlitt University, 1980.
MASSEY, Doreen. Pelo Espaço: Uma nova política pela espacialidade. Bertrand Brasil, 2008.
PAIVA, Clotilde Andrade. População e Economia nas Minas Gerais do Século XIX.
Orientadora: Eni de Mesquita Samara. 1996. 228f. Tese (Doutorado em História) – Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.
PAIVA, et al. Crescimento da população escrava: uma questão em aberto. Anais/ IV Seminário
sobre a economia mineira, 1988.
SAINT-HILAIRE, Auguste. Viagem pelas Províncias do Rio de Janeiro e de Minas Gerais.
Livraria Itatiaia. Ed. Belo Horizonte: 1974.







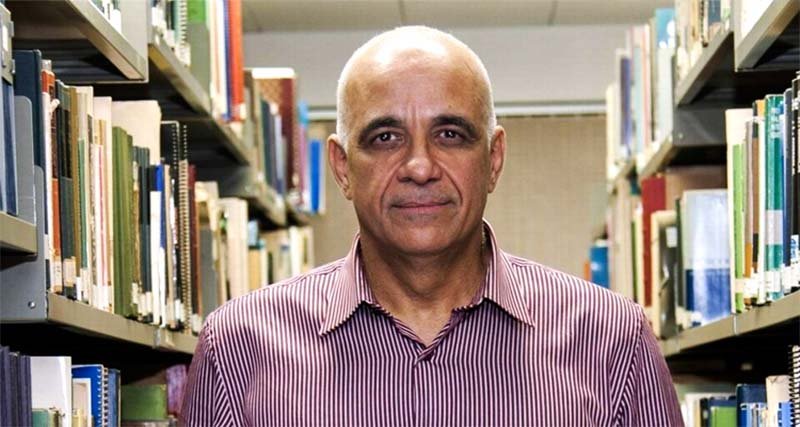
Diante o inesperado foram-se as águas, as florestas e os minerais, o que sobrou é aterrorizante. E sinceramente, em minha ignorância genuína não acredito que Minas Gerais tenha obtido um único centavo de lucro com a mineração. Ficou paisagem de miséria que avança dia a pós dia e uma população adoecida…
Eram muito ricos os donos de terras pra minerar ou plantar alguma coisinha, só o barão de Alfié, “o pai dos pobres”, ao morrer, deixou em inventário a libertação 300 escravos de sua fazenda; 300 pessoas trabalharam de graça pro pai dos pobres enricado e que de resto deixou a pobreza em São José da Lagoa.
Cara Maura, está passando da hora de você botar um livro em nossos estantes.
Olá, Cristina! Obrigada pela leitura.
O livro já está a caminho, com previsão de lançamento em novembro. A minha dissertação “Com Luz de ferreiro”, em breve, estará disponível em livro em formato físico e em ebook.
Já na tese, “Sobre foles, agulhas e espaços de autonomia”, tenho voltado minha pesquisa para os aspectos da vida em comunidade dos ferreiros e outros oficiais mecânicos que atuaram nas Minas do ferro e amplio bastante a reconstrução desse espaço urbano da Itabira do Mato Dentro, os usos das águas, rossios, terras minerais e seus espaços públicos. No segundo semestre do ano que vem, teremos outro livro por vir… Seguimos no trabalho árduo e invisibilzado de desanuviar esse passado subnegado e pouco conhecido das terras Itabiranas.
Um abraço!
Maura