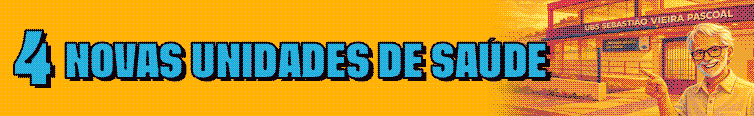Estudantes da USP mortos pela ditadura são homenageados 60 anos depois do início do regime militar
Foto: Helenira Resende de Souza Nazareth/ Arquivo Pessoal
Mais de 10% dos mortos e desaparecidos listados pela Comissão da Verdade tinham relação com a universidade
Por Sérgio Barbo
Edição: Bruno Fonseca
![]() Agência Pública – “Helenira sempre foi boa aluna”, diz sua irmã Helenalda. “E participava ativamente da UNE [União Nacional dos Estudantes]”. Estudante de Letras na Universidade de São Paulo (USP), Helenira Resende de Souza Nazareth, conhecida como Preta, foi uma líder estudantil e política nata. Filha de um dos primeiros médicos negros do país, ela herdou a militância do pai Adalberto Nazareth, membro do PCdoB.
Agência Pública – “Helenira sempre foi boa aluna”, diz sua irmã Helenalda. “E participava ativamente da UNE [União Nacional dos Estudantes]”. Estudante de Letras na Universidade de São Paulo (USP), Helenira Resende de Souza Nazareth, conhecida como Preta, foi uma líder estudantil e política nata. Filha de um dos primeiros médicos negros do país, ela herdou a militância do pai Adalberto Nazareth, membro do PCdoB.
Vice-presidente da UNE, após coorganizar o 30º Congresso de outubro de 1968 – quando 800 estudantes foram detidos –, ela foi presa e ameaçada de morte pelo delegado Sérgio Fleury, do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) da última ditadura militar brasileira. Trancou a matrícula e trocou o sonho de ser crítica literária pelo de combater o regime. Quatro anos depois, guerrilheira, morreu em combate no Araguaia, aos 28 anos de idade.

Contemporâneo de Helenira na Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, João Antônio Abi-Eçab compartilhava um sonho similar. Participou do movimento estudantil e do diretório acadêmico da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras (FFCL) e criou um cursinho preparatório, o PREUSP, com colegas universitários.
Em 1967 foi preso no DOPS. No ano seguinte, abandonou o curso de filosofia para se dedicar à luta contra a ditadura. Em maio de 1968 se casou com uma colega de faculdade, Catarina Helena Ferreira. Em novembro, durante sua lua-de-mel no Rio de Janeiro, o casal foi morto pelos órgãos ditos de segurança. João, com 25 anos, e Catarina, com 21, foram os primeiros alunos da USP mortos pela repressão.
Como ato de reparação, em 2024, no ano em que o Brasil completa 60 anos do golpe civil-militar e a USP, 90 de fundação, a universidade realizou em 26 de agosto a diplomação honorífica de graduação dos três jovens e mais 12 estudantes impedidos pela ditadura de concluir seus cursos na FFCL – entre eles, Frei Tito, morto há 50 anos. No dia 28 de agosto, a Faculdade de Medicina homenageia mais estudantes. Ao todo, a Diplomação da Resistência, irá homenagear 33 ex-estudantes da universidade.
Lançado em dezembro de 2023, o projeto teve como primeiros homenageados Alexandre Vannucchi e Ronaldo Queiroz, alunos do Instituto de Geociência. “Essa cerimônia desencadeou uma série de ações pela memória, inclusive em outras universidades”, conta Marta Costta, sobrinha de Helenira Resende e uma das organizadoras da Diplomação da Resistência. “É um reconhecimento importante de alunos que tombaram na ditadura. É necessário contar essas histórias para que não se repitam”.
As histórias que tiveram lugar na USP inscreveram marcantes capítulos do período ditatorial ocorrido entre 1964 e 1985. O embate entre estudantes da Faculdade de Filosofia da USP e alunos do Mackenzie apoiados por integrantes do Comando de Caça aos Comunistas, em 2 de outubro de 1968, entrou para páginas de História como a Batalha da Rua Maria Antônia, na qual o prédio da faculdade foi destruído e um estudante secundarista foi morto pelo CCC.

Depois dos sindicatos e das ligas camponesas, as instituições universitárias foram alvos prioritários da repressão militar, consideradas pelo governo redutos de “subversivos”. A intensa militância estudantil na USP despontou como reação natural, uma vez que a repressão na universidade paulista possuía rubrica federal desde os primeiros dias do golpe de Estado, em abril de 1964.
Ex-diretor da Faculdade de Direito, o jurista Luís Antônio da Gama e Silva foi reitor da USP por duas temporadas entre 1963 e 1969, responsável pelas listas de cassações que assolaram a universidade. Convocado duas vezes para o Ministério da Justiça, para onde levou membros do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), foi autor do AI-5 e de leis e práticas ditatoriais adotadas no período, como a formulação da Operação Bandeirante (OBAN), órgão de investigação precursor do DOI-Codi.
Colega na Faculdade de Direito, Miguel Reale, um ex-integralista que se tornou Secretário da Justiça do Estado de São Paulo, foi sucessor de Gama e Silva na reitoria e criador de uma comissão de vigilância dentro da universidade. Em sua gestão, registrou-se o maior número de desaparecidos e mortos relacionados à USP.
Conforme observa a historiadora Janice Theodoro, ex-coordenadora da Comissão da Verdade da USP, a Justiça criou bases legais para o regime autocrático. “Ao contrário da Argentina e Chile, onde ocorreu extermínio em massa, a ditadura brasileira utilizou o Direito para perseguir opositores”, avalia Theodoro, ela própria presa durante a ditadura por conta de seu ativismo estudantil.
Dos 434 mortos e desaparecidos políticos enumerados pela Comissão Nacional da Verdade, 47 tinham relação com a USP – ou seja, mais de 10% da lista.
Reitores e professores promoveram repressão e perseguições
Além de agentes da repressão institucionalizada, Luís Antônio da Gama e Silva e Miguel Reale foram articuladores de primeira hora do golpe civil-militar, como descreve o cientista político René Dreifuss em sua obra 1964: A Conquista do Estado.
Anticomunistas viscerais, Gama e Silva e Reale foram líderes no Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES), a think tank financiada pela CIA, banqueiros e empresários que conspirou para derrubar o governo João Goulart. Ambos coordenavam o Grupo de Estudos e Doutrina do instituto político-militar.
Reale, inclusive, organizou uma convenção no estádio do Pacaembu, em São Paulo, em 1963, a fim de definir estratégias para a desestabilização do governo. Após o golpe, registros do IPES sobre a população brasileira originaram o banco de dados do Serviço Nacional de Informação (SNI).

Ambos participaram também da Comissão de Alto Nível, criada pelo ditador Costa e Silva para assessorar a reforma constitucional de 1967.
Gama e Silva, o “Gaminha”, se tornou reitor da USP em 1963 e foi reeleito em 1966. Em 1964, foi convidado a ser ministro da Educação e da Justiça, funções que exerceu por breve período. Enquanto reitor, elaborou a lista de nomes de professores e alunos que viriam a ser processados no IPM da universidade. Em abril daquele ano, por meio de decreto, comissões de Inquérito Policial Militar foram instaladas em instituições diversas em busca de possíveis opositores do regime militar.
Entre os docentes uspianos perseguidos, alguns eram expoentes em seus campos. Mário Schemberg, um dos principais nomes da física do país, foi preso por 50 dias em 1964 e compulsoriamente aposentado em 1969, após o AI-5.
Igualmente detido e exonerado, Florestan Fernandes, patrono da sociologia brasileira, foi tido como um “marxista violentíssimo” – “deferência” também conferida ao cientista e professor Isaias Raw, que nem mesmo à esquerda pertencia.
Um dos pais da arquitetura paulista, Vilanova Artigas foi preso e impossibilitado de lecionar. Foi reintegrado após a Lei da Anistia, em 1979, como auxiliar de ensino. Em 1984, foi obrigado a prestar um humilhante concurso para recuperar o cargo de professor titular da FAU. Seis meses depois, ele faleceria, segundo sua esposa, de desgosto.
A sanha persecutória não perdoava nem mesmo livros: uma insuspeita publicação sobre história grega intitulada Helenismo foi apreendida por agentes de segurança, que afoitamente a associaram ao termo “leninismo”.
Endereçadas à reitoria e órgãos de segurança, cartas anônimas redigidas pela ala de professores mais conservadora reforçavam os expurgos – inclusive o de uma criança. Uma carta de delação relatava que o fisiologista Thomas Maack comprovava ser um ativo comunista pelo fato de carregar sua pequena filha num cesto vermelho. Como resultado, a criança foi expulsa da creche do Hospital das Clínicas.
Entre as faculdades mais perseguidas estavam a de Filosofia, Ciências e Letras e a de Medicina, reputadas como redutos de esquerda. Três renomados nomes egressos da Faculdade de Medicina tiveram o mesmo destino insólito.
“Fui convidado pelo professor Oswaldo Vital Brazil para ser seu assistente na Faculdade de Ciências Médicas de Campinas, berço da Unicamp. Eu operava um cão, quando chegaram dois ou três investigadores”, conta o professor Boris Vargafitg, trotskista desde 1958. “Esperaram eu terminar a operação para me levar para o DOPS, onde encontrei o colega médico Luiz Hildebrando”.
Os dois foram transferidos para o insalubre navio-prisão Raul Soares, uma das primeiras prisões da ditadura, ancorado em Santos. “Lá, procurei por Thomas Maack, preso há meses, e lhe disse que sua filha e esposa estavam bem”, relembra. “Não sofri tortura como outros sofreram, mas uma das piores coisas era ter que ir ao banheiro com uma metralhadora apontada para você por um soldado”.
Liberado após 50 dias, ele teve as portas fechadas em Campinas e São Paulo. Ao final de 1964 restou a Boris migrar para o exterior, onde logo encontrou trabalho. Tanto ele como Luiz Hildebrando construíram carreiras de sucesso no Instituto Pasteur, em Paris, assim como Maack logrou êxito profissional nos Estados Unidos. A fuga de cérebros e talentos foi uma constante durante a ditadura.
Parceiros da ditadura
Em 1967, Gama e Silva foi novamente convocado pelo ditador Costa e Silva para o Ministério da Justiça – para onde levou membros do CCC. Mesmo em Brasília, manteve o cargo de reitor.
De acordo com depoimento do investigador Raul Nogueira de Lima, o “Raul Careca”, ao jornalista Percival de Souza, o Comando de Caça aos Comunistas foi criado por ele, então estudante de Direito na Universidade Mackenzie, e por João Marcos Flaquer e Octávio Gonçalves Moreira Júnior, alunos de Direito da USP, em 1963: “O CCC foi criado na Faculdade de Direito do largo São Francisco para enfrentar a esquerda organizada. O núcleo inicial era de uns quinze estudantes”.
Membros do grupo de extrema direita atuaram no IPES, TFP (Tradição, Família e Propriedade), DOPS, DOI-Codi e SNI. O delegado Octávio Gonçalves, o “Otavinho”, era sobrinho de Gama e Silva, segundo apurações da Comissão Nacional da Verdade.
O CCC recebia treinamento e respaldo militar, enquanto praticava intimidações e atentados a teatros, faculdades e veículos de comunicação. Alvo preferencial, a USP recebeu ataques em diversos prédios, como o da FFCL, e no CRUSP, o conjunto residencial onde moradores tiveram que se esconder de rajadas de metralhadora por mais de uma vez.
Na noite de 16 de outubro de 1968, o professor Alberto Moniz da Rocha Barros, da Faculdade de Direito, foi atacado por integrantes do CCC, alunos daquela instituição, que o derrubaram e lhe deram pontapés. Rocha Barros, que já sofria ameaças e insultos por suas posições de esquerda, passou a viver em estado de grande tensão e morreu de infarto menos de dois meses depois. Uma sindicância aberta na época, jamais teve seu resultado conhecido.
Além do Direito, a parceria entre uspianos e militares se deu em outro campo. Entre 1969 e 1976, vários médicos legistas foram responsáveis pela realização de laudos necroscópicos falsos no Instituto Médico Legal de São Paulo.
Muitos deles, como Harry Shibata, Isaac Abramovitc, Abeylard de Queiroz Orsini e Armando Canger Rodrigues, eram formados pela USP. Abramovitc foi quem mais assinou documentos, com 22 laudos, ao passo que Shibata – autor do laudo da morte como suicídio do jornalista e professor Vladimir Herzog – é o campeão em processos relacionados à ditadura.
Abramovitc e Orsini fraudaram o laudo do estudante de Medicina e professor de curso pré-vestibular Gelson Reicher. Abramovitc, que conhecia Reicher desde a infância e fora seu professor na faculdade, chegou a telefonar para a família e avisou onde seu corpo fora enterrado. E fez forte defesa do regime vigente, ao afirmar que a violência havia sido provocada pelos opositores e que, portanto, a resposta era à altura.
“Gelson era diretor do centro acadêmico e era um gênio. Suas peças de teatro eram impressionantes”, conta Adriano Diogo, ex-presidente da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo. Sobre Abramovitc, ele revela: “Isaac possuía uma clínica de aborto, cuja segurança e acobertamento eram feitos pela OBAN. Ele trouxe um aparelho do exterior, que sugava o órgão genital, e fez milhares de abortos”.
No Quadrilátero da Saúde, onde estão as faculdades de Medicina e de Saúde Pública, a Escola de Enfermagem e o Hospital das Clínicas – além do vizinho IML –, a tensão era constante. “Fichas de alunos internados no Hospital das Clínicas desapareceram. Não conseguimos documentos [foram negados], mas havia relatos de tortura feita por médicos no hospital”, declara a historiadora Janice Theodoro.
Todavia, havia um oportuno contraponto aos torturadores: um serviço clandestino de atendimento a presos políticos internados no hospital-escola foi organizado por médicos veteranos e estagiários. Chamado de “Socorro Vermelho”, prestava auxílio a pacientes e seus familiares durante a madrugada. Um desses médicos foi Boanerges de Souza Massa, formado pela USP em 1965 e morto pela repressão em 1972.
Então estudante da Faculdade de Medicina, o psicanalista Leopold Nosek foi preso no hospital por agentes de segurança e levado para o DOI-Codi. “Tive tempo de tirar o avental e informar na portaria que estava sendo preso. Minha militância estudantil não era grande em 1969, mas eu militava no POC, Partido Operário Comunista”, relembra.
Nosek foi representante dos internos e liderou uma greve no hospital em 1970. “Um militante de outra organização disse que poderíamos sequestrar o superintendente se eu quisesse. O Hospital das Clínicas era considerado área de segurança nacional e sua administração era militar. Havia agentes infiltrados ali e na faculdade”.
Resistência estudantil
Ativista desde a adolescência, Helenira Resende era contra a realização do 30º Congresso da UNE em Ibiúna, interior de São Paulo. “Os estudantes acabaram com o estoque de pães na cidade”, conta Helenalda, sua irmã. “Sua primeira opção era realizar a reunião no CRUSP”.

O conjunto residencial se tornou centro político do movimento estudantil desde 1963, quando foi ocupado por estudantes que não possuíam condições de pagar os caros aluguéis de São Paulo. Após o golpe, tornou-se palco de contestação do regime militar e espaço de práticas de educação popular.
Em agosto de 1968, um delegado do DOPS foi ao CRUSP para prender alguns líderes, mas foi preso e interrogado pelos estudantes, enquanto sua viatura era incinerada. A vingança viria após a publicação do draconiano AI-5, quando o alojamento estudantil foi invadido por tropas do Exército, todos seus moradores foram presos e um IPM foi instalado – cujo relator foi o coronel Sebastião Alvim, diretor do navio-prisão Raul Soares.
Diretor cultural do CRUSP, Lauriberto José Reyes era outra liderança da UNE a favor da realização do congresso no alojamento. Membro da Aliança Libertadora Nacional (ALN), organização criada por Carlos Marighella, Lauriberto sequestrou um avião no dia que o revolucionário morreu, em 4 novembro de 1969, e desviou seu curso até Cuba.
Na ação, foi acompanhado por Ruy Carlos Vieira Berbert, estudante de Letras, professor e morador do CRUSP. Na ilha, receberam treinamento de guerrilha e participaram da criação do grupo MOLIPO.
Estudante de Ciências Sociais, moradora do CRUSP e professora do Cursinho do Grêmio da faculdade, Isis Dias de Oliveira teve igualmente treinamento em Cuba. “A discussão da democratização do acesso à USP era uma questão importante para a tia Isis. Ela não entendia a desigualdade social”, explica sua sobrinha Adriana Dias. “Ela estudou piano, pintura, moda, e dominava três idiomas. Mas em vez de levar essa sensibilidade para as artes, ela levou para a sociologia, para a luta armada”.
Após algumas invasões, o cursinho no CRUSP funcionou até 1967, quando surgiu a necessidade de se criar cursos mais discretos, fora da universidade. João Antônio e Catarina Abi-Eçab fundaram então o PREUSP, que contou com a participação de Isis Dias e seu marido José Luiz Del Roio (cofundador da ALN) e outros estudantes da USP, como o artista plástico ítalo-brasileiro Antônio Benetazzo e José Arantes, presidente do grêmio e da UNE.

Diretor do Núcleo de Preservação da Memória Política, Maurice Politi foi aluno do PREUSP. “Não sabia do que se tratava; entrei lá porque era mais barato do que outros cursos. Mas tive ótimos professores, que me possibilitaram ingressar na USP”, relata ele, que assegura que havia forte teor político no curso. “Eles davam aula, mas também tentavam cooptar para a ALN”.
Politi ingressou na faculdade de Comunicações Culturais (pré-ECA), criada por Gama e Silva. “Ele colocou como diretor um espanhol franquista, Julio Garcia Morejón. A escola foi criada para ser um modelo fascista”. Um dos professores de jornalismo, Flávio Galvão, do grupo O Estado de São Paulo e vinculado ao IPES e SNI, abriu um processo administrativo contra Politi, por panfletagem na universidade. “Quem me defendeu foi o jurista Dalmo Dallari”.
O PREUSP, contudo, teve breve existência. O casal Abi-Eçab faleceu no dia 8 de novembro de 1968, justamente no dia do retorno a São Paulo, após estadia no Rio. A versão oficial diz que ambos morreram num acidente automobilístico, entretanto, o ex-militar Valdemar Martins, em reportagens diversas, sustenta que eles foram sequestrados, torturados e executados por agentes do Centro de Inteligência do Exército.
“Minha mãe havia preparado o jantar favorito de João para a sua volta”, recorda sua irmã Mariliana Abi-Eçab. “Ele sabia que não viveria muito. Estudava muito, trabalhava muito, era afoito para viver. O relacionamento do casal não deve ter passado de um ano”.
“Catarina me passava suavidade, tranquilidade. João era alegre, intelectualizado, tinha uma forte visão social”, diz o irmão Leopoldo, que foi secretário no PREUSP. “Ele não queria me envolver, mas eventualmente eu participava. No mês seguinte ao acidente, o apartamento deles foi vistoriado pelos delegados Sérgio Fleury e Paulo Bonchristiano, então, antes, tiramos o material comprometedor”.

Leopoldo Abi-Eçab crê que, para liberar rapidamente os corpos do casal, seu pai possa ter feito um trato com os militares, que consistia em não abrir o caixão. Durante três anos, seu pai foi espionado por um investigador, que ele julgava ser cliente de sua clínica ortopédica. “Em 1972, após um café, ele revelou que era policial e que em seu relatório nada constava. Em seguida desapareceu”.
As mortes de Lauriberto, Ruy Carlos, Benetazzo e José Arantes também são suspeitas e demonstram disparidades entre a versão oficial dos militares, laudos do IML e relatos de testemunhas. Registrado como suicídio, o óbito de Benetazzo ocorreu por apedrejamento, conforme depoimento de um militar ao jornalista Marcelo Godoy.
Já Isis Dias de Oliveira, falecida em 1972, nunca teve seu corpo encontrado. Sua mãe, Felícia Nardini de Oliveira, empreendeu incansável busca por seu paradeiro, aqui e no exterior. Em sua luta, ajudou a formar a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e o Grupo Tortura Nunca Mais. Felícia faleceu em 2010, aos 93 anos, sem saber o que efetivamente ocorreu com a filha.

Punição e vigilância no campus
Em dezembro de 1968, Gama e Silva redigiu duas versões do AI-5 que davam plenos poderes ao presidente, sendo a primeira versão classificada de “caráter nazista” por Costa e Silva. No ano seguinte a repressão se intensificou com a criação da OBAN e de atos feito o AI-13, que instituiu a pena de banimento, e o AI-14, com a pena de morte em caso de guerra.
Entre os anos de 1968 e 1973, o AI-5 puniu 168 professores, cientistas e intelectuais, entre eles, o vice-reitor da USP, Hélio Lourenço de Oliveira, adepto de reformas universitárias, que foi exonerado em 1969 após discordar da prisão de alunos e funcionários e da cassação de 43 docentes. Colega de “Gaminha”, Alfredo Buzaid ocuparia seu posto e, posteriormente, o Ministério da Justiça.
Reitor da USP entre 1949 e 1950, Miguel Reale assumiu a reitoria pela segunda vez em 1969, nomeado pelo governador “biônico” Abreu Sodré. Ideólogo da Ação Integralista Brasileira, diplomado pela Escola Superior de Guerra, Reale elevou o nível de vigilância na universidade ao instalar em 1972, em sala contígua à sua, a Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI). Encarregado do gabinete, Krikor Tcherkesian enviou centenas de informes para o SNI, Forças Armadas e polícias.
“Apesar de a AESI ser planejada para o âmbito federal, a USP, universidade estadual, ganhou sua própria assessoria de informação por obra de Reale”, esclarece Janice Theodoro.
Em janeiro de 1975, o reitor Orlando Marques de Paiva determinou a demissão de Ana Rosa Kucinski, professora do Instituto de Química, por abandono de cargo, mesmo ciente de seu desaparecimento. Em 22 de abril de 1974, Ana e seu marido, o físico Wilson Silva, foram sequestrados, torturados e assassinados por agentes da repressão. Ambos eram integrantes da ALN.
No dia seguinte ao seu desaparecimento, Krikor Tcherkesian visitou a sede do DOPS. O presidente da comissão que julgou o caso de Ana, o professor Henrique Tastaldi, assumiu seu lugar no Instituto de Química.
A triagem ideológica na USP foi extinta somente em 1982, na gestão de Hélio Guerra – responsável por queimar documentos da AESI.
Os restos mortais de Ana Rosa e seu marido, assim como os de Helenira e Isis, nunca foram encontrados. “Há um boicote para não se achar os corpos”, acredita Helenalda Resende, que foi torturada por militares, juntamente com outra irmã, mesmo após o desaparecimento de Helenira.
Muitos desaparecidos políticos foram homenageados com nomes de logradouros, praças, centros acadêmicos e bibliotecas. A diplomação honorífica complementa essas homenagens.
A diplomação para os alunos que tiveram suas vidas interrompidas durante o período da ditadura, é uma das recomendações da Comissão da Verdade da USP, atesta Renato Cymbalista, coordenador da Pró-Reitoria de Inclusão e Pertencimento (PRIP).
“Eram pessoas que se destacavam em seus meios, socialmente, politicamente, intelectualmente, e que certamente teriam feito muita diferença caso tivessem tido a oportunidade de exercer suas práticas profissionais”.
“A Diplomação da Resistência é uma sinalização de que a USP precisa olhar para sua história, não apenas como uma história laudatória, de resistência, mas a partir de um olhar crítico que revê posições e que busca reparar e corrigir erros do passado”, considera.