O poeta e a pedra
Carlos Drummond de Andrade, Itabira e a mineração
José Miguel Wisnik*
CHEGADA
Em julho de 2014 o acaso me levou a Itabira, onde eu nunca tinha estado. A princípio, tratava-se de participar do Inverno Cultural em Minas Gerais, numa sequência de eventos que passava também por Sete Lagoas, Ouro Branco e São João del-Rei. A viagem teve efeitos inesperados, que desembocam neste livro: na cidade natal de Carlos Drummond de Andrade as marcas do passado, assim como sinais contemporâneos gritantes, pareciam estar chamando, todos juntos, para uma releitura da obra do poeta. A estranha singularidade do lugar incitava a ir mais fundo na relação do autor de “A máquina do mundo” com as circunstâncias que envolvem a “estrada de Minas, pedregosa”, a geografia física e humana, a história da mineração do ferro.
De um lado, é possível reconhecer ali muito daquela Itabira que já existe para nós como entidade poética, antes de havermos pisado lá. Basta ter desenvolvido alguma familiaridade com a poesia de Drummond para registrar a existência da cidadezinha escondida – Itabira do Mato Dentro – que retorna na obra dele com uma insistência intrigante. Do começo ao fim, quase não há livro em que ela não compareça. O mais abrangente e poderoso dos poetas brasileiros arrasta consigo o espírito do lugar, à maneira dos “primitivos que carregam por toda parte o maxilar inferior de seus mortos” (“Tarde de maio”, Claro Enigma). E, com ele, a origem oligárquica permeada de culpa, o atavismo familiar que mergulha nas sombras do mando e da escravidão, o colosso de ferro congênito, a dureza mineral das ruas e das gentes (“Noventa por cento de ferro nas calçadas/Oitenta por cento de ferro nas almas”, como dizem os versos famosos), e também a coexistência da vida comum com o espanto originário, com a primeira descoberta dos enigmas do tempo, do sexo, da vida e da morte.

Nascido em 1902, Drummond viveu pouco tempo em Itabira – os períodos da infância e da puberdade, mais o breve momento em que, já casado e sem rumo profissional definido, lecionou geografia e português no Ginásio Sul-Americano, por alguns meses, em 1926. Mas os ecos da cidade retornam em sua obra inteira, e permanecem nela qual uma inscrição latejante, sem correspondente cronológico contabilizável – como a tal “fotografia na parede”, que dói, ou como um sino repercutindo traumas e avivando o vivido. Remetendo a uma noite alumbrada de seus 7 anos, no remoto ano de 1910, um poema de Boitempo (livro tardio de autobiografia poética que mergulha na memória do lugar) registra a passagem fulgurante do cometa Halley, que se acreditava trazer o fim do mundo (de dentro de uma inocência ainda anterior às guerras mundiais do século xx e ao estado apocalíptico do mundo atual): “Olho o cometa/com deslumbrado horror de sua cauda/que vai bater na Terra e o mundo explode./[…] O cometa/chicoteia de luz a minha vida/e tudo que não fiz brilha em diadema […]/Ninguém chora/nem grita./A luz total/de nossas mortes faz um espetáculo.”
Como no caso dessa catástrofe falhada, cuja potência se assemelha à da arte – iminência de um acontecimento total que não se dá, mas que anuncia por isso mesmo o arco da vida inteira, chicoteando-a de luz –, a existência local participa de uma escala pedestre e cósmica, tremenda e chã, carregando a força obsessiva das coisas perdidas mas inextirpáveis. A reclusão, o isolamento, a pequenez da povoação suportando uma carga imensa de silêncio, a falta de perspectivas (“suas noites brancas, sem mulheres e sem horizontes”), os hábitos discretos (“esse alheamento do que na vida é porosidade e comunicação”), assombrados por segredos gritantes (a violência naturalizada do mando patriarcal, a sexualidade abusiva da linha paterna, o “sexo abafado” do mundo feminino, as tentativas incertas da própria sexualidade), tudo isso habita explícita ou implicitamente a Itabira de Drummond, cheia de contenção circunspecta e ao mesmo tempo de um esquisito sentimento de enormidade. José Maria Cançado, seu primeiro biógrafo, diz, a propósito, que ali o “mundo não se assemelha nem à natureza nem à cultura, mas a uma terceira coisa entre os dois, uma espécie de grande alucinação, uma monstruosidade geológica, uma dissonância planetária, com sua quantidade astronômica de minério”.
A imagem não é despropositada, por mais que possa parecer. Chegar a esse lugar é sentir, de fato, o impacto da geologia e da história, acopladas. Algo de alucinado se passou e se passa naquele sítio, implicando uma torção desmedida entre a paisagem e a máquina mineradora, com quantidades monstruosas de ferro envolvidas. Há no ar a sensação de que um crime não nomeado, ligado à fatalidade de um “destino mineral”, foi cometido a céu aberto.
De imediato, impressiona a força do que terá sido a visão do pico do Cauê para o “menino antigo” que o avistava bem em frente das janelas do “casão senhorial” onde viveu a infância, desde os 2 anos de idade (“pedra luzente/pedra empinada/pedra pontuda/pedra falante/pedra pesante por toda a vida”).[1] Ponto destacado da paisagem natal drummondiana, o Cauê aparece nela como “primeira visão do mundo”, inscrita em “perfil grave” na sua memória afetiva.[2] O pico se notabilizava por seu estatuto sóbrio e não espetaculoso no tamanho – ele mesmo mineral e mineiro –, embora perturbadoramente próximo e compacto, com seu alto teor de ferro concentrado. Impunha-se à visão de maneira supostamente indelével, desenhando “uma forma de ser, […] eterna”, “a cada volta de caminho”. Se a frente da casa dava para o pico, o fundo dava, “a dez passos do sobrado”, para a Matriz do Rosário, com seu poderoso sino Elias e seu relógio, cuja hora ressoava “grave/como a consciência” e cujo som é “para ser ouvido no longilonge/do tempo da vida”, um “som profundo no ar,/[…] que liga o passado/ao futuro, ao mais que o tempo,/e no entardecer escuro/abre um clarão.”
In loco, a escala desses lugares soa muito mais cerrada e contígua do que imaginaríamos a distância. A dimensão é patente na proximidade do sobrado familiar (que permanece lá, preservado e visitável) com a velha prisão e a Câmara. Mais que isso, estava, além de colado na Matriz, voltado frontalmente, com todas as suas sacadas, para o vulto montanhoso do Cauê. Situado por imposição ancestral no centro dessa topografia política, o sobrado familiar “há de dar para a Câmara” (como diz outro poema de Boitempo), há de ter, “no flanco, a Matriz” e há de “ter vista para a serra” (os grifos são meu). Há de ter: a palavra da ordem e da autoridade, que estrutura o poema, é o timbre e o registro de uma linhagem de oligarcas, de coronéis latifundiários donos da trama “de poder a poder” que ordena o espaço, envolvendo a residência dos Andrade, a qual pertenceu ao bisavô, numa rede de instâncias públicas e privadas que amarra o urbano e o tectônico, os dispositivos civis, a igreja principal e a massa do pico do Cauê assomando entre ladeiras tortas, num horizonte inesperadamente íntimo, tudo encavalado numa dobra entre a escala da cidade e a do perfil de ferro maciço.
Assim também, constatamos que não é sem motivação biográfica que sinos repercutam pela obra poética de Drummond, quando entendemos que o da Matriz do Rosário ficava tão rente à casa familiar que suas batidas deviam reverberar nos alicerces e nos gonzos da vigília e do sono. A poesia tardia de Drummond realçará a ressonância infindável dessa badalada: “Impossível dormir, se não a escuto”, impossível “ficar acordado, sem sua batida, e existir, se ela emudece: Cada hora é fixada no ar, na alma,/continua sonhando na surdez./[…] Imenso/no pulso/este relógio vai comigo”. Numa crônica de 1970, ele avalia o poder encantatório da combinação fusional de sino com relógio que se projetava da torre esquerda da Matriz, e que dava ao tempo cronológico uma dimensão reverberante, expandida, entranhada: “Era um sino que soava longe, como o relógio da fachada era um relógio que dominava todas as horas: no friozinho do amanhecer, na preguiça da tarde, no tecido confuso da noite. Horas especiais saíam dele, nítidas, severas, ordenando o trabalho de cada um, a reza de cada um. No silêncio absoluto, quando pessoas e animais pareciam mortos, tinha-se consciência da vida, porque o relógio avisava e repetia o aviso.”
Sons de sinos – que não deixam de ser, afinal, a emanação aérea do ferro – comparecerão, mesmo ausentes, enquanto disparadores do tempo perdido e desencontrado na grande cidade, em poemas escritos no Rio de Janeiro, como “Anoitecer” (“É a hora em que o sino toca,/mas aqui não há sinos”), “Fraga e sombra” (“Um sino toca, e não saber quem tange/é como se este som nascesse do ar”) e “Reportagem matinal” (“Eis que ouço a batida nítida/no azul rasgado ao meio/perto/longe/no tempo/em mim.//Quando a palavra já não vale/e os encantos se perderam,/resta um sino”). Os grandes saltos metafísicos da poesia de Drummond são disparados pela memória do som crepuscular e “rouco” do signo-sino, que dá a ver a face do enigma (em “A máquina do mundo”) e precipita o mergulho no “âmago de tudo”, na dor universal, no “choro pânico do mundo” (em “Relógio do Rosário”). Como os demais signos do lugar, porém mais profundamente do que eles, o “sino Elias” entranha-se na dimensão mais íntima, independente de sua propagação pública, como um grande relógio de pulso interior (ressoando, na trama fusional “de poder a poder” que atravessa tudo, o nome do profeta bíblico e o nome do avô de Carlos, o capitão-mor Elias de Paula Andrade). Um ensaio de fenomenologia do lugar diz que um sino, quando “toca ao anoitecer, ouvido em toda parte, […] torna o ‘lado de dentro’, o ‘privado’, parte de uma totalidade ‘pública’ abrangente”. Na Itabira drummondiana, mais que isso, é como se o sino pendulasse do familiar ao público e do público ao familiar mais íntimo, numa reverberação ostensiva da fusão entre essas esferas.
Em suma, algumas horas em Itabira falam, sem parar e sem palavras, da posição desse sujeito capturado desde o nascimento por uma topografia cenográfica, marcada impositivamente por sua origem de classe, diretamente associada a uma paisagem visual assombrada pela potência silenciosa de um relevo de ferro, ecoando numa paisagem sonora abismada pelo sentimento do tempo. Bem a propósito do que focalizamos aqui, Henri Bergson qualifica a experiência da duração por meio da referência ao som do sino, cujo efeito de ressonância sobre a consciência, furtando-se à mensuração e à espacialidade, teria o poder de revelar o ser como pura vibração contínua, fluxo de tonalidades afetivas, à maneira daquelas com que Drummond caracteriza a insistência das batidas do sino do relógio do Rosário. Ao lado de constituir‑se numa referência filosófica sobre a experiência do tempo liberado da mensuração, o sino em Drummond vem a ser um elemento concreto da história material rente ao corpo: é o próprio objeto sonante que está ali, contíguo e associado à casa da infância remota, inscrito na memória mais recôndita como um vizinho portentoso badalando dentro, ao infinito, as ressonâncias daquilo que não cessa. Não à toa, Walter Benjamin comenta que a experiência da durée bergsoniana é mais própria dos poetas que dos filósofos (somos levados a pensar que “somente o poeta pode ser o sujeito adequado de uma experiência similar”), e que foi um romancista-poeta, Marcel Proust, que a levou a suas consequências maiores, na busca da produção artificial (isto é, literária) da “memória involuntária” como via régia de acesso à experiência do tempo perdido e redescoberto, em condições sociais modernas, nas quais não se pode mais contar “com a sua gênese-espontânea” (bombardeados que somos por uma bateria de estímulos e choques que nos induzem a desenvolver uma espécie de couraça psíquica).
Quando atravessam a camada anestesiada que resiste a eles, no entanto, os sinais (ou os sinos) da memória involuntária repercutem em conteúdos difusos, intensos, inconscientes, mais além da vivência factual e da recordação datada, chamando à tona, inteira, a aura não verbal do vivido, com todas as refrações que a compõem. Um exemplo flagrante desse fenômeno psíquico e poético encontra-se no relato, feito por Drummond, das associações despertadas nele por uma velha coleção de jornais itabiranos, que lhe chega às mãos em 1950. Como é próprio da memória involuntária, as lembranças em cascata jorram de um estímulo sensível, no caso as “páginas amarelecidas” que “cheiram preciosamente a 1910”, fibras frágeis de papel gasto de cujas notícias longínquas exala “o menino daquele tempo” que “vai pelas ruas, sobe nas árvores, contempla longamente o perfil da serra, prova o gosto dos araçás, dos araticuns e dos bacuparis silvestres – tudo isso que o jornal não tem, mas que se desenrola do jornal como de uma fita mágica” (o grifo é meu). Como o “divertimento japonês de mergulhar numa bacia de porcelana cheia d’água pedacinhos de papel”, que, molhados, se estiram formando “flores, casas, personagens consistentes e reconhecíveis” (metáfora proustiana do momento mágico da Recherche em que a madeleinedesperta o passado de Combray), a “fita mágica” do jornal itabirano o transporta ao frescor de um tempo subjacente em zonas despercebidas da psique, que acorda de repente da dormência: “e subo de novo a ladeira do Bongue, revejo Lilingue, Chico Zuzuna, o velho Elias do Cascalho, feiticeiro africano, o poço da Água Santa, os coqueiros de espinho na estrada para o Pontal, o pequeno cemitério do Cruzeiro guardando meus parentes, e o frio das manhãs serranas, e as namoradas intocáveis no alto das sacadas de arabesco, tudo isso misturado, longínquo, próximo, nítido, cheirando absurdamente a jasmim – e perdido”.
Walter Benjamin coloca a memória involuntária no coração deslocado da lírica moderna, onde se trava uma luta com as circunstâncias adversas dadas pelos choques que inviabilizam sua eclosão espontânea, obrigando a consciência a um sem-número de contorções reflexivas e a uma teatralização intensiva do embate histórico com as condições em que se desenvolve. É na emergência da duração, no entanto, quando destacada das circunstâncias que a insensibilizam e a recalcam, que “conteúdos do passado individual entram em conjunção, na memória, com os do passado coletivo”, como acabamos de ver, fazendo a subjetividade saltar para uma significação que a ultrapassa, ganhando uma dimensão ao mesmo tempo individual e social, íntima e histórica.
O cenário de Itabira oferece uma conjunção conflitiva e desusada de conteúdos pessoais os mais íntimos, reverberados na caixa de ressonância da memória lírica, onde marcas da vida popular convivem com modelos oligárquicos da conformação social brasileira, tudo jogado contra o relevo de uma geologia impositiva. Percebemos concretamente, ali, o modo como esse complexo cerrado de casa-câmara-cadeia-igreja-sino-serra, em meio a ruas tortas e calçadas de ferro, constitui-se para Carlos Drummond de Andrade num lugar magnético da fantasia originária, num inconsciente social e telúrico de cujo interior é impossível sair, por mais que se desprender da origem e contribuir decisivamente para a interrogação e a afirmação da experiência moderna tenha sido o seu gesto capital de emancipação e de libertação.
TEMEI, PENHAS
Até aqui escondi de propósito o assombro maior e mais crucial, por ser praticamente inviável expor o quadro todo num movimento só. É que, para complicar radicalmente o panorama, o pico do Cauê, cuja efígie o lugar nos induz a ver pelo vestígio de sua localização espectral, não está mais lá, a não ser como presença alucinada de uma ausência. Explorada pela Companhia Vale do Rio Doce, que foi criada especificamente para isso em 1942, quando da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, e com sua escavação recrudescida a partir dos anos 50, visando o mercado mundial do aço, a montanha, de excepcional teor ferrífero, foi roída pela atividade mineradora, ao longo das décadas, a ponto de ter se transformado numa inominável cratera que cava seu perfil em negativo no fundo da terra. Assim, o que era desde sempre, naquela povoação, a proximidade singularmente promíscua da pacata conformação urbana com um acidente geológico de máxima densidade, paga essa desmedida originária com a implantação aberrante de um sítio minerador operando quase no coração da cidade, e atropelando-a com suas explosões, suas máquinas e sua chuva intermitente de poeira de ferro.
 O grande buraco geral que a mineração cavou no território de Minas, multiplicado por outras tantas Itabiras e Itabiritos, e que em Belo Horizonte fez da serra do Curral uma paisagem de fachada que esconde uma ruína mineral, está exposto em Itabira de maneira exemplar e obscena, de tão real e tão próximo. Em outras palavras, se o horizonte de Belo Horizonte é sustentado hoje por uma espécie de telão montanhoso, mera película residual preservada por conveniência – afinal, é dele que a capital do estado extrai seu nome –, em Itabira a exploração mineradora sentiu-se à vontade para abolir a serra e anular o horizonte sem maior necessidade de manter as aparências.
O grande buraco geral que a mineração cavou no território de Minas, multiplicado por outras tantas Itabiras e Itabiritos, e que em Belo Horizonte fez da serra do Curral uma paisagem de fachada que esconde uma ruína mineral, está exposto em Itabira de maneira exemplar e obscena, de tão real e tão próximo. Em outras palavras, se o horizonte de Belo Horizonte é sustentado hoje por uma espécie de telão montanhoso, mera película residual preservada por conveniência – afinal, é dele que a capital do estado extrai seu nome –, em Itabira a exploração mineradora sentiu-se à vontade para abolir a serra e anular o horizonte sem maior necessidade de manter as aparências.
Se o pico do Cauê foi avassalado e enfim extirpado no processo de uma gigantesca cirurgia siderúrgica, o sino Elias tombou, por sua vez, na sequência dos acontecimentos que envolvem o desabamento parcial das torres e do telhado da Matriz do Rosário, em novembro de 1970. Consta que, no mesmo dia da queda, o que restava da igreja foi sumariamente demolido por um grupo em que se confundiam bombeiros com técnicos e dirigentes da Companhia Vale do Rio Doce, munidos de cabos de aço, tratores, guindastes e marretas, precipitando o despencar estrondoso do sino sobre os escombros, sem que se considerasse a necessidade de um laudo geotécnico prévio ou se contemplasse a hipótese de restauração do edifício semidestruído. (No lugar da antiga Matriz do Rosário foi construída outra igreja, modernosa e feia.)
Contra a hipótese de mera casualidade produzida pelos efeitos do tempo, a crônica local chama a atenção para o provável papel desempenhado, no desabamento, pelos “reflexos sísmicos causados pelas constantes explosões na mina do Cauê”. Se a hipótese vale, tem-se um efeito cascata em que a mesma dinamitação que liquidava o pico derrubava, àquela altura, a igreja e o sino. Para completar o quadro, a Fazenda do Pontal, muito possivelmente a referência para o poema em que o “menino entre mangueiras/lia a história de Robinson Crusoé,/comprida história que não acaba mais”,[3] foi convertida pela atual companhia Vale num depósito de rejeitos da mineração, que só se pode avistar a distância, do alto de um morro para onde a antiga casa-sede foi transposta, numa manobra mirabolante de compensação museológica que é ao mesmo tempo um feito de engenharia e o belvedere da ruína, pretendendo apresentar-se como aprazível ponto turístico-literário no museu do mundo. Tudo somado, o conjunto formado por pico, matriz, sino e fazenda, espectros em torno de um casarão estranhamente incólume e crivado de lembranças, acaba por compor um cenário de devastação em escala de land art, alegórico malgrado ele mesmo, com a montanha virada do avesso na forma de um sino descomunal, arruinado e de ponta-cabeça.
Impossível não associar tal visão à catástrofe de Mariana e do rio Doce, desencadeada em 5 de novembro de 2015, desvelando uma nova dimensão desse todo. Em Mariana, a derrama dos rejeitos, empilhados como um castelo de cartas em barragens a montante, apoiando-se a si mesmas sem outros critérios a não ser o da acumulação sem freios, pela empresa Samarco, braço da atual Vale, cobrou seu tributo às comunidades e a todos os reinos da natureza em vidas e em destruição, no distrito de Bento Rodrigues e em tudo que se estende pelo rio Doce até o mar. (Já riscado da denominação da Vale s.a. em 2007, quando a Companhia Vale do Rio Doce – privatizada pelo governo Fernando Henrique Cardoso em 1997 – trocou seu nome, é como se a companhia estivesse agora a ponto de riscar o próprio rio do mapa.)
Associar os acontecimentos de Itabira e de Mariana não significa equipará-los – um é efeito do lento desenrolar de uma exploração que opera em surdina ao longo de décadas, de modo crônico, localizado e praticamente invisível na cena pública nacional; outro eclode súbito e estrondoso, esparramado no espaço e reconhecido imediatamente como a maior hecatombe socioambiental do país, desmascarando a pulsão destrutiva da sanha extrativa e acumuladora. Embora diferentes, no entanto, o acontecimento catastrófico de Mariana, com tudo que tem de fragoroso e letal, pode ser visto como o raio que ilumina o que há de silencioso e invisível na catástrofe de Itabira. Ambos envolvem a mesma região, a mesma empresa, e fazem parte da mesma história, que começa na altura de 1910 com a corrida de empresas inglesas, norte-americanas, alemãs e francesas ao quadrilátero ferrífero mineiro, com a instalação da Itabira Iron Ore Company, que prossegue com um longo período de disputas travadas sobre as condições dessa exploração mineral até o final dos anos 30, tomando impulso com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, em 1942, e a correspondente exportação do minério de ferro itabirano para a indústria bélica aliada, acelerando-se exponencialmente com a articulação dessas jazidas à produção mundial do aço no pós-guerra (as circunstâncias disso serão detalhadas mais adiante). Ambos expõem as maquinações sem peias que vão convertendo compactas montanhas de minério em precárias e periclitantes montanhas de rejeitos.
O TREM-MONSTRO MINEIRO
Vida e obra de Carlos Drummond de Andrade acompanham a curva desse arco histórico – intencionalmente ou não. De perto ou de longe, dentro de Itabira ou com Itabira dentro dele, o poeta viveu o “destino mineral” que reconheceu ali (“um destino mineral, de uma geometria dura e inelutável, te prendia, Itabira, ao dorso fatigado da montanha”). Esse real, duro e inelutável, comparece espasmodicamente na sua poesia, desde as alusões às bordas primordiais do pico do Cauê até a vala comum de “A montanha pulverizada”, que emerge como um claro pesadelo na lavra tardia de Boitempo, “britada em bilhões de lascas” e levada pelo “trem maior do mundo”.

Entenda-se a excepcionalidade da situação: trata-se do encavalamento surdo de uma mitologia pessoal – apegada ao enigma familiar provinciano e amplificada pelo poder simbólico da obra deste que veio a ser o maior poeta brasileiro do século – com a história da mineração no Brasil e seu arpejo de implicações locais, nacionais e mundiais. De maneira acidentada, ao longo de várias etapas, mas desde o início, como veremos, temos aí o cruzamento subterrâneo da fantasia provincial do sujeito, entranhada no mundo das relações patriarcais, com a realidade implicada na exploração mundial do ferro, o que dá àquela fantasia originária um fôlego estranhamente dilatado para as condições em que vigorou. Essa combinação de acontecimento local, íntimo, preso às circunstâncias e às idiossincrasias de Itabira do Mato Dentro, com a teia maior da guerra e da expansão da indústria pesada em escala internacional no pós-guerra, remontando ao interesse capital do capital pelas jazidas ferríferas de Minas desde o começo do século xx, tudo se fazendo presente por ausência, in loco e a distância, com efeitos às vezes antecipados, às vezes retardados, dá à situação um caráter ao mesmo tempo circunscrito e exorbitante, literal e cifrado.
Os conteúdos da “memória involuntária” convivem com o assalto da história mundial que chega insidiosamente a essa “cidadezinha qualquer” e nada qualquer (se olhada da perspectiva dos interesses internacionais que convergem para ela, e das discussões nacionais sobre o destino da mineração, que a envolviam diretamente desde os anos 1910). A empresa anglo-americana Itabira Iron Ore Company estava apta a funcionar já em 1911, nessa cidade em que o “sono rancoroso dos minérios” será acordado para ir à guerra em 1942, e que estará no alvo da “Grande Máquina” dos dispositivos de exploração totalizante da segunda metade do século xx, embora cronicamente cega para tudo isso. Itabira está situada, na verdade, numa espécie de polo secreto da mineração brasileira, de implicações nacionais e internacionais importantes, sem deixar de ser a “cidadezinha qualquer” da extrema província, dentro do mato, doendo na fotografia onde se encontram as retinas fatigadas pelos choques da modernidade com a efusão remota e lancinante da memória involuntária.
Durante o processo, a força e as potencialidades difusas do nicho provinciano, concentradas em bloco num maciço de ferro cheio de reverberações arcaicas e imaginado como imóvel e inesgotável, vêm a ser capitalizadas, isto é, apropriadas, dinamitadas, britadas, processadas e dissipadas pelo mundo. Tais operações, tidas como naturais do ponto de vista da mercadologia universal, tomadas como razão de ser em si mesmas, e sem contemplação alguma para com as consequências de outra ordem, têm o poder de alterar radicalmente a natureza da matéria e do patrimônio imaterial sobre os quais agem. Pois o pico do Cauê transita, com uma lentidão que não deixa de ser vertiginosa, e com um efeito final acachapante, entre ser matéria primal da história da localidade, matéria primeira da imaginação poética e matéria-prima da indústria pesada em larga escala.
Esses três estados podem ser identificados ao longo do já citado poema “A montanha pulverizada”:
Chego à sacada e vejo a minha serra,
a serra de meu pai e meu avô,
de todos os Andrades que passaram
e passarão, a serra que não passa.
Era coisa dos índios e a tomamos
para enfeitar e presidir a vida
neste vale soturno onde a riqueza
maior é sua vista e contemplá-la.
De longe nos revela o perfil grave.
A cada volta de caminho aponta
uma forma de ser, em ferro, eterna,
e sopra eternidade na fluência.
Esta manhã acordo e
não a encontro.
Britada em bilhões de lascas
deslizando em correia transportadora
entupindo 150 vagões
no trem-monstro de 5 locomotivas
– o trem maior do mundo, tomem nota –
foge minha serra, vai
deixando no meu corpo e na paisagem
mísero pó de ferro, e este não passa.
A matéria primal da história itabirana relaciona-se com a apropriação do território, tomado aos índios sob a sombra majestática da montanha, no distante Mato Dentro, e convertida pelos colonizadores ditos ancestrais do poeta em marco de posse e ornamento soberano da paisagem: “Chego à sacada e vejo a minha serra,/a serra de meu pai e meu avô,/de todos os Andrades que passaram/e passarão, a serra que não passa.//Era coisa dos índios e a tomamos/para enfeitar e presidir a vida/neste vale soturno onde a riqueza/maior é sua vista e contemplá-la”. Outros poemas de Boitempo expõem as violências do regime de mando decorrente da operação de posse e de sua sustentação, o que não impede a identificação do sujeito com o passado senhorial, do qual o pico do Cauê pode ser visto como uma espécie de totem (no caso do poema, e diante da violência da devastação posterior, a identificação com o passado familiar dá o tom). Mas as oscilações culposas envolvendo o vínculo de classe, o trabalhoso rompimento com a origem oligárquica e a impossibilidade de fazê-lo completamente, de extinguir o sintoma, numa continuada luta mortal e amorosa com a figura do pai, atravessam a obra de Drummond como questão crucial. Fique claro que a potência dessa poesia reside, entre outras coisas, em expor as suas contradições de maneira reflexiva e conflituada, fazendo-se o campo de uma implacável autoanálise que resulta na emergência de efeitos lancinantes de um real do sujeito e da sociedade.

Já a matéria primeira da imaginação, sem a qual as outras instâncias poéticas simplesmente não andariam, envolve o modo como o pico do Cauê se faz objeto das associações afetivas intensas e duradouras que alimentam a lírica, vindas da infância, em certa medida anteriores ao próprio eu consciente, suspendendo o tempo cronológico e se tornando a matriz de fluxos e a mina de continuidade que desponta e retorna em toda parte a que se vá: “De longe nos revela o perfil grave./A cada volta de caminho aponta/uma forma de ser, em ferro, eterna,/e sopra eternidade na fluência”. Se no início do poema a montanha é dita como pertencente ao sujeito enquanto membro do clã dos Andrades, de cuja sacada senhorial ela é nomeada como “minha serra”, na sequência ela passa a ser também a experiência singular do sujeito poético, multiplicadora de experiências ressonantes, imagem modular confirmada como o ponto de referência a cada volta dos caminhos (“pedra luzente/[…]/pedra pontuda/pedra falante/pedra pesante/por toda a vida”, como diz outro poema já citado). Se, em outros poemas, o sino da igreja do Rosário aparece como a referência-matriz do tempo, o pico é assumido aqui como o paradigma de orientação na “imagem ambiental” do lugar, baliza daquele espaço e de todos os espaços, como forma-matriz das formas durativas de ser, que se oferece ao sujeito como um princípio de identificação.
A conversão dessa montanha primeira em matéria-prima e insumo industrial, hard commodity na Bolsa acelerada das mercadorias, triturada em fragmento, brita, lasca e pó, produto de um lento processo devastador, apresenta-se no poema como o efeito súbito e desconcertante de uma ausência descomunal, emergindo a seco de um pesadelo desperto: “Esta manhã acordo e/não a encontro./Britada em bilhões de lascas/deslizando em correia transportadora/entupindo 150 vagões/no trem-monstro de 5 locomotivas/– o trem maior do mundo, tomem nota –/foge minha serra, vai/deixando no meu corpo e na paisagem/mísero pó de ferro, e este não passa”. A história mundial, a tecnologia, o mercado, caem sobre a existência pétrea e antediluviana do Cauê como um golpe de real que o faz desaparecer, lançando um efeito corrosivo e avassalador, em ricochete, sobre as instâncias anteriores do poema: o poder do clã dos Andrades (entidade imaginária que acreditava deter o controle do território para sempre) e a constituição simbólica do sujeito (que encontrava na montanha seu eixo de referência e orientação).
Entremeados numa trama complexa que envolve o imaginário, o simbólico e o real, vários tempos incidem juntamente na montanha itabirana: o tempo paralisado de uma Itabira ancestral, arcaica e decadente, que não anda; o tempo ressonante da memória afetiva, que permanece indestrutível no sujeito como duração contínua e como ideia fixa, que não cessa; e o tempo celerado da mercadoria, que come por dentro, como que despercebido, mas que se revela instantâneo e devastador, après coup. Um parece parado num marasmo sem fim, o outro povoa o primeiro de experiências e sensações poéticas que não param, o terceiro lhes dá um choque abissal. Tem-se aí, também, o trauma originário da sujeição oligárquica (subjacente, ele é assumido pelo sujeito, nesse caso, como reconhecível e, pelo menos, como visceralmente seu), diante do trauma a posteriori da devastação imposta pela pulsão devoradora do capital na era do aço. Esse segundo trauma apresenta-se como um sonho sinistro, corporificado na imagem ao mesmo tempo familiar e estranha do trem mineiro convertido no trem-monstro, arregaçando suas cinco locomotivas e seus 150 vagões na escala gigantesca da máquina mundial. A modernidade, que comparece ali cronicamente como ausência, sobrevém como catástrofe. Tudo resultando na cifra totalizante de uma enigmática maquinação do mundo, combinação esdrúxula e sibilina do particular com o geral, que age ali como se ali não estivesse.
A ESFINGE
Convenhamos que o movimento sempre reversível entre a província e o mundo, na poesia de Drummond, entre a “cidadezinha qualquer” e a metrópole (“No elevador penso na roça,/na roça penso no elevador”), entre as configurações arcaicas do Brasil e os espasmos e anúncios da modernização do país, já está virtualmente inscrito nas dobras da história singularíssima de Itabira, desde que “os ingleses compram a mina” em 1910. Trata-se de uma situação muito mais complexa do que aquela, típica, em que escritores deslocam-se do meio rural ou provinciano de sua origem para as grandes cidades – como é o caso dos romancistas nordestinos dos anos 30 –, deixando atrás de si um passado cheio de memória e prenhe de matéria literária, mas vencido e encerrado no tempo. No caso da relação de Drummond com Itabira, o passado volta insistentemente como matéria do presente, que ilumina, por sua vez, a origem: a seu modo, a história mundial está queimando e se desnudando ali.
 Se Itabira é para Drummond um “lugar cósmico”, sem deixar de ser movido e paralisado pela história, é porque se trata desde sempre de absorver alguma coisa que é da ordem da desmedida e da anomalia. De maneira significativa, o poemeto “Itabira” (Alguma Poesia, 1930), inaugurando a longa série sobre o tema, já contém implicações fundas e sutis, relacionadas com tudo isso, que passam despercebidas se não levamos em conta, mesmo que a posteriori, as dimensões tremendas da tragédia mineral itabirana. Nesse poema, que começa com o verso “Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê” e que registra a compra da mina pelos ingleses, estão prefiguradas e encapsuladas sutilmente, em sua forma inicial, as forças em jogo durante as décadas seguintes. “Itabira” (publicado pela primeira vez em jornal, em 1926) e “A montanha pulverizada” (em 1973) constituem-se em pontos extremos nos quais podemos reconhecer o início e o termo do processo.
Se Itabira é para Drummond um “lugar cósmico”, sem deixar de ser movido e paralisado pela história, é porque se trata desde sempre de absorver alguma coisa que é da ordem da desmedida e da anomalia. De maneira significativa, o poemeto “Itabira” (Alguma Poesia, 1930), inaugurando a longa série sobre o tema, já contém implicações fundas e sutis, relacionadas com tudo isso, que passam despercebidas se não levamos em conta, mesmo que a posteriori, as dimensões tremendas da tragédia mineral itabirana. Nesse poema, que começa com o verso “Cada um de nós tem seu pedaço no pico do Cauê” e que registra a compra da mina pelos ingleses, estão prefiguradas e encapsuladas sutilmente, em sua forma inicial, as forças em jogo durante as décadas seguintes. “Itabira” (publicado pela primeira vez em jornal, em 1926) e “A montanha pulverizada” (em 1973) constituem-se em pontos extremos nos quais podemos reconhecer o início e o termo do processo.
No meio do caminho entre os dois poemas coloca-se a pedra mais enigmática do problema todo: “A máquina do mundo” (Claro Enigma, 1951). Se “Itabira” está no começo e “A montanha pulverizada” no fim, “A máquina do mundo” é a pedra totalizante no meio do percurso, o núcleo secreto dessa história, seu cerne simbólico, seu aleph. É ela que está na nossa mira, quando fazemos a introdução a esse capítulo imponente e doloroso da geoliteratura mineira, que ganha ali uma densidade máxima e cifrada, e que é preciso historicizar. Procuraremos mostrar, mas para isso é preciso palmilhar ainda o caminho das pedras, que o acontecimento econômico, tecnológico e faustiano da exploração do pico do Cauê, com toda a sua amplitude e suas implicações históricas, deixará rastros secretos naquele périplo em que a Grande Máquina dos dispositivos da exploração capitalista se encontrará com a mítica Máquina do Mundo, de ressonâncias camonianas, na “estrada de Minas, pedregosa”, ao som do “sino rouco” que é outro dos sinais metálicos e pungentes da memória involuntária na poesia de Drummond. Assim, a Máquina não é somente a quimera abstrata que surge do nada, oferecendo ao poeta moderno – que a recusa – a velha tentação do enigma total desvendado, mas é também o recado conflituoso que advém de um choque: a visão do solo das Minas revirado pelas máquinas mineradoras. Para sustentar essa relação inusual, contaremos com o relato, escrito por Drummond, de uma sobressaltada e extática viagem entre Belo Horizonte e Itabira, em maio de 1948, a bordo da “máquina frágil” e “aventureira” de um táxi-aéreo, para visitar a mãe que estava gravemente doente, quando lhe é dado ver com os próprios olhos o “pico venerável” tornado objeto da empresa mineradora, os caminhões arfantes contornando a montanha, os vagões descendo “pesados de hematita” e as “instalações de ar comprimido” desintegrando “os blocos milenários”.
“A máquina do mundo” aparece pela primeira vez no Correio da Manhã, em 2 de outubro de 1949, pouco mais de um ano depois dessa viagem. Relida à luz da questão mineral, a famigerada máquina pede para ser entendida não apenas como a aparição intempestiva do Absoluto (que também é), mas como a indicação elíptica de um trauma histórico e a intuição totalizante dos dispositivos de dominação e exploração que se abrem no mundo do pós-guerra, de vastas consequências para a visão do contemporâneo.
Se eu disse que o poema pede para ser entendido, fique claro que esse pedido silencioso só se faz enquanto claro enigma, isto é, com a “face neutra” de quem pergunta, de dentro de suas “mil faces secretas” – e “sem interesse pela resposta” –, se “trouxeste a chave”. A poesia, como se sabe, não trata necessariamente a sua matéria de maneira referencial direta, mas “penetra surdamente no reino das palavras” e come pelas bordas.
Trecho do livro Maquinação do Mundo – Drummond e a Mineração, que será lançado este mês pela Companhia das Letras.
[1] A expressão “casão senhorial” se encontra no poema “Casarão morto”, em Boitempo: Menino Antigo; as demais, em “Pedra natal”, em Boitempo: Esquecer para Lembrar. Na crônica “Itabira, sempre Itabira”, publicada no Correio da Manhã, em 16 de março de 1947, 2a seção, p. 1, Drummond explica o nome da cidade como significando “‘pedra reluzente’, segundo uns; ‘pedra pontuda’, ‘pedra moça’ ou ‘pedra alta’, segundo outros”.
[2] “Insisto em dizer que a vida era inconsciente e calma. O pico do Cauê, nossa primeira visão do mundo, também era inconsciente, calmo.” “Vila de Utopia”, em Confissões de Minas.
[3] “Infância”, em Alguma Poesia. Ver também “Fazenda dos 12 vinténs, ou do Pontal, e terras em redor”, em Boitempo: Menino Antigo. O pai de Drummond, Carlos de Paula Andrade, possuía, entre outras fazendas, a do Retiro dos Angicos, Serro Verde e Serro Azul, as duas últimas citadas em “Terras”, Lição de Coisas: “As duas fazendas de meu pai/aonde nunca fui/Miragens tão próximas/pronunciar os nomes/era tocá-las”.
*José Miguel Wisnik, músico, compositor, ensaísta e professor de literatura na USP, é autor de “Veneno Remédio: o Futebol e o Brasil”, pela Companhia das Letras
** Artigo publicado originalmente na revista Piauí





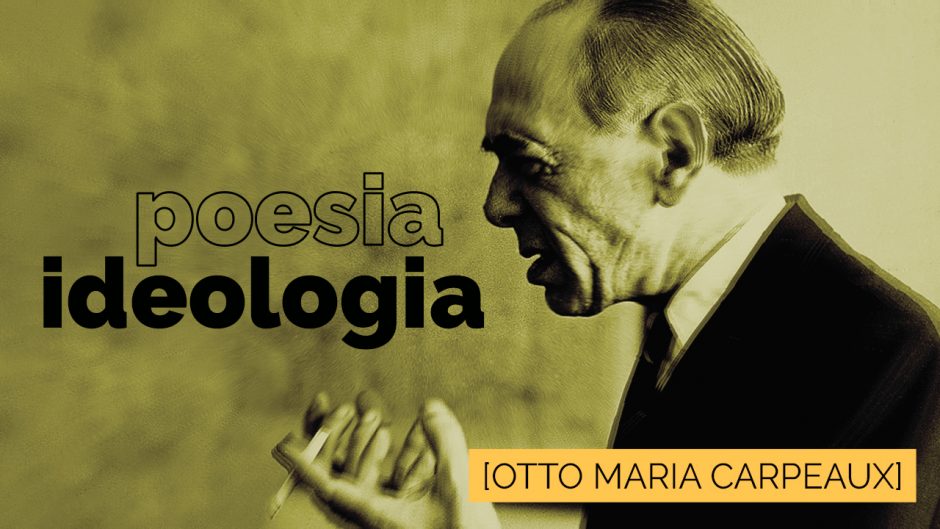



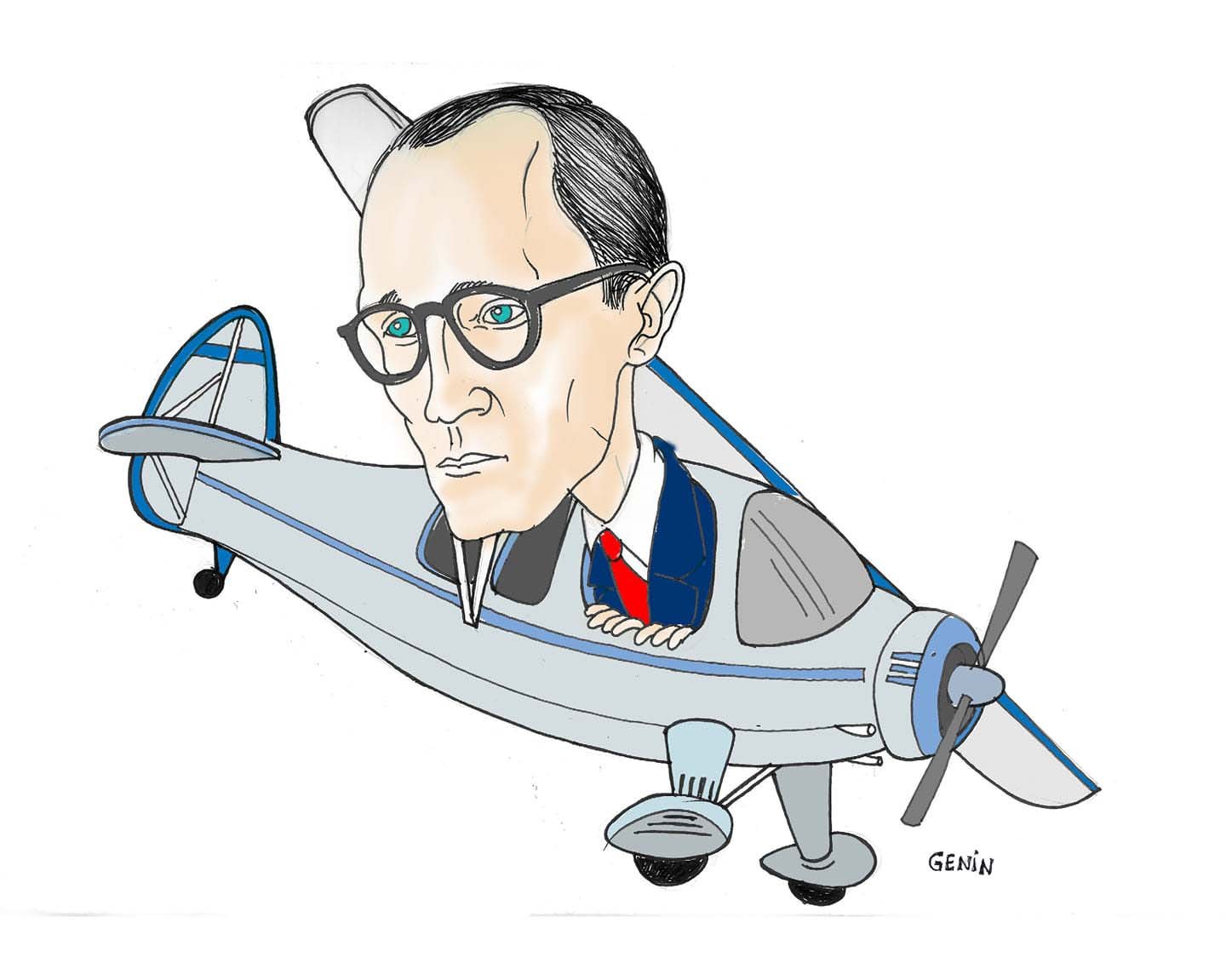
Qual o número de edição da revista “piauí” que saiu esse texto do Wisnik?
A última.
Estou lendo o livro e eh fantástico!Salve Wisnik! Merece uma homenagem itabirana!
Boa tarde. Parabéns! Muita qualidade Wisnik na erudição acima apresentada. Não conhecia o jornal eletrônico e tomei conhecimento hoje na Praça “Redonda” a partir de um colega seu. Sucesso sempre.