Itabira é sempre Itabira para Carlos Drummond de Andrade
Carlos Drummond de Andrade e a jornalista Lya Cavalcanti
(imagens IMS)
Em 1954 a Rádio MEC transmitia o programa “Quase Memória” sob a batuta da jornalista Lya Cavalcanti (1901-1988). Durante oito domingos, Lya entrevistou o poeta Drummond. Uma conversa contagiante, a desenvoltura atrevida de Lya e Carlos, a proximidade e o afeto resultaram numa entrevista memorável, principalmente para a história de Itabira.
Foi tão bão que vinte três anos depois, entre outubro e novembro de 1977, o cronista Drummond publica no Jornal do Brasil a série Confissões no Rádio. Uma edição de “Quase Memória” como explica o poeta: “Alguma coisa do que foi ao ar naquela ocasião sai modificada por interesse de arrumação das palavras, e boa parte está resumida”.

Em 1986 as Confissões no Rádio são impressas em livro: Tempo Vida Poesia.
Em abril de 1987 o Jornal O Cometa Itabirano publica parte da entrevista com destaque para as lembranças de Carlos Drummond de Andrade “lá do meu mato-dentro”.
Em julho de 1987, o jornal Diário do Pará transcreve do Cometa Itabirano, Drummond: Tempo vida poesia – Confissões no rádio.
Para lembrar o aniversário de nascimento do poeta, a Vila de Utopia reproduz Confissões no Rádio, primeira publicação da entrevista, pela web. Viva Drummond! (Cristina Silveira)
Lya Cavalcanti – Boa noite, poeta. Como vai?
Carlos Drummond de Andrade – Mal, obrigado. Todas às vezes que a gente começa uma coisa, há a premonição de não dar certo…
Lya – Ué, você não confia no seu programa?
Drummond – Eu? Nem um pouco. Mas vamos experimentar, como fazem tantos reformadores sociais. Se não der certo, não correremos o risco dos atores no palco. Você volta para o seu escritório na Câmara dos Deputados…
Lya – E você para a sua casa.

Drummond – É, o rádio tem isso de bom, como a televisão. Não precisa xingar, bater ou matar ninguém: basta girar o botão, ou desligar.
Lya – É verdade que sua ideia não deixa de ser… petulante. Me desculpe, mas isso de fazer memória pelo rádio…
Drummond – Tá desculpada. No fundo, você está sendo é gentil, insinuando que sou ainda muito jovem para contar minha vida, e que ela continua. Na verdade, a vida que continua sempre é a dos outros.
A da gente vai ficando reduzida a certos interesses fundamentais, e mesmo não perdendo em intensidade, será uma intensidade concentrada em área menor. Uma lâmpada, e não um lustre, entende?
Lya – Ai de mim, vou começando a entender.
Drummond – Pois é isso. Chega um momento em que a pessoa, fatalmente, se joga numa poltrona macia, estica as pernas e diz: Bem, vamos recordar, como na Ceia dos Cardeais.
Lya – E você vai abrir sua vida diante de todo mundo? Que falta de gosto, para não dizer: que horror!
Drummond – Falta de gosto ou horror, por que? Então você acha que ela é mais… quer dizer, menos publicável que a dos outros?
Lya – Não é isso. É que para mim o processo de recordação tem qualquer coisa de íntimo, de intramuros, passado entre duas pessoas. Se você o pratica pelo microfone, está fazendo conferência, dando aula, posando, até mentindo sem querer. Acaba desvirtuando a pureza do traço para interessar o público no seu desenho. E isso é uma pouca-vergonha, desculpe a expressão.
Drummond – Sossegue, Lya. Não vou dar um show de mim mesmo ao público. Nem o público havia de gostar, pois afinal eu não desintegrei o átomo, não ganhei a Segunda Guerra Mundial, não descobri a penicilina…
Que é que me pode ser atribuído na história da humanidade, ou mesmo de contracultura? Nada. Rabisquei papelório burocrático e uma versalhada do tipo livre. Os homens e mulheres notáveis, do ponto de vista humanitário, científico, político, esses é que têm imagem digna de multiplicação.
Lya – Mas já me disseram que você escreve bem, e nessa qualidade…
Drummond – Não exageremos. Não há código para decidir o que é escrever bem ou mal. E há ainda o problema grave: o que merece ser escrito, bem ou mal, para o bem de todos?
O que eu pensava em fazer pelo rádio não era me contar, era contar o que eu vi outros fazerem, ao longo de algumas dezenas de anos de vida literária. Isso me dispensaria de contar o que eu mesmo fiz, se é que fiz alguma coisa, e se não teria sido melhor deixar de fazê-la.
Lya – Mas você não vai contar tudo que viu, é claro.
Drummond – Não. Mas gostaria de contar também como é que a ação dos outros se reflete no espirito da gente. A vida literária pode ser comparada a uma superfície espelhante, não direi manso lago azul, em todo caso um lago ou piscina.
Cada escritor que surge e se reflete nele é por sua vez reflexo mais ou menos vivo dos outros escritores, que por sua vez … Em suma, a literatura é um fenômeno de imitação ou repetição. Não havendo, por exemplo, o laguinho dos suplementos e revistas literárias, como diminui o número de poetas!
Lya – Muitos não fariam falta. No seu caso especial, quais foram as imagens que você começou a refletir no espelho? Ou por outra, que fizeram de você um literato?
Drummond – A primeira reminiscência de sentido literário, que me acode, não é propriamente de um texto literatura, em verso ou prosa, mas de um personagem de romance.
Não do romance em si, mas da figura projetada por ele. Porque o texto não era bem texto, era uma coleção de legendas a uma coleção de figuras, na versão infantil do Robinson Crusoé, de Defoe na revista O Tico-Tico, publicação da maior importância na formação intelectual das crianças do começo deste século.
Creio que lhe devo minha primeira emoção literária, pois quando Robinson conseguiu se mandar da ilha, senti um nó na garganta: eu queria que ele continuasse lá o resto da vida, solitário e dominador… Emoção produzida por uma personagem literária, um mito…
Lya – Mas você é o tipo do caramujo, puxa! Ainda fedelho, e já sonhava com ilhas desertas.
Drummond – Não era bem solidão da ilha que me encantava no Robinson, era talvez, inconscientemente, a sugestão poética?
 Lya – Com isso, estava criado um novo escritor?
Lya – Com isso, estava criado um novo escritor?
Drummond – Estava criada coisa nenhuma. Apenas o garoto sentia a força da criação literária, como paciente, não como agente. Mas você vai rir quando eu lhe contar quais foram as fontes literárias em que matei minha primeira sede.
Além de Robinson infantil, li a História de Carlos Magno e dos Doze Pares da França, em edição de capa vermelha da Livraria Garnier, que percorria o Brasil de Sul a Norte, e me lembro que não me interessou muito. Os heróis de espavento nunca foram o meu fraco.
Já as Aventuras de Bertoldo, Bertoldinho e Cacasseno, literatura de folheto, achei deliciosas, pois colocavam a astúcia diante da força, e vencendo-a; a inteligência graciosa triunfando sobre o arbítrio e a estupidez.
Também percorri, com devoção semanal, os romances, capa-e-espada, do francês Michel Zévaco, que ainda vivia na França quando nós no Brasil consumíamos sua rocambolada através dos fascículos editados pelo Fon-Fon!
Os Pardaillan, A Ponte dos Suspiros, O Pátio dos Milagres, Triboulet, Nostradamus, Buridan, Fausta… Ingeri capa-e-espada para o resto da vida. Não é que eu não gostasse realmente daquilo. Mas era matéria impressa, tinha a atração dos desenhos coloridos na capa: como resistir se não havia opções?
Lya – E como é que você arranjava esse material?
Drummond – Emprestado por um homem do povo, de imaginação artística e poucas letras, o pedreiro e santeiro Alfredo Duval, a quem já rendi homenagem de gratidão num de meus poemas. Foi o primeiro escultor que eu conheci.
Tinha a preocupação do verismo, tanto que para modelar um Cristo ele exigia a pose do homem mais elegante de Itabira, o farmacêutico Eurico Camilo, cuja barba à nazarena, justamente admirada, preenchia as condições ideais.
Homem fino, benévolo, Eurico posava para o artista popular. Enquanto isso abria na cidade o primeiro cinema (só quem assistiu à infância do cinema no Brasil pode avaliar o que era essa magia dominical das fitas francesas italianas, sonho da semana inteira).
E o Eurico não parou aí. Anos mais tarde, abria mais do que um cinema: a primeira estrada de automóvel ligando Itabira a Santa Bárbara. Acabou com a era do cavalinho de viagem. Com a “condução”, como se dizia. Devo-lhe um estágio ascendente na minha formação literária.
Lya – Era também escritor?
Drummond – Não. Mas assinava as duas revistas semanais do Rio, que a par de frivolidades, distribuíam os últimos ecos do simbolismo (o Fon-Fon!, com Mário Pederneiras e Álvaro Moreyra) e a Careta, que tinha a exclusividade dos derradeiros sonetos de Bilac).
Soneto de Bilac era alguma coisa como a vária do Jornal do Comércio, está no plano político, aquele no plano literário. O mestre falou; Turibulemos. Sempre amei Bilac, embora não o confessasse no período modernista; é riqueza da minha infância; nas páginas da Careta, ilustrada por J. Carlos.
E o bom Eurico é quem me emprestava as revistas. Eu lia, devolvia, tornava a pedir… Também três moças, de duas famílias diferentes, colecionavam revistas e as emprestavam ao menino ledor que lhes batia à porta. Eram Lalá e Zoraida Diniz, filhas da professora Dona Marciana, e Ninita Castilho, filha de meus padrinhos Juca e Marica. Moças pacientes!
O garoto devia ser bem ‘purgante’, sinônimo de chato naquela época… Essas revistas, lidas, relidas, alisadas no excelente papel couché, fizeram minha iniciação literária, muito imperfeita mas decisiva. Guardo até hoje visualmente de cor, por assim dizer, páginas e páginas das duas. Sei a posição das gravuras, os títulos das matérias.

Lya – A literatura brasileira, para você, não ia além de textos de revistas?
Drummond – Bem, a literatura brasileira, ou melhor, o espírito da literatura brasileira era representada pelo Grêmio Dramático e Literário Artur Azevedo, que se mantinha à custa de muito esforço no alto de um velho sobrado cujo andar térreo era ocupado por uma família de sapateiros mudos, os Anchietas.
Todo mundo na cidade conhecia bem a linguagem dos mudos, e as botinas, rústicas, mas duradouras, saíam a contento. Em cima, a linguagem esforçava-se por ser nobre. Eram homens feitos, interessados em manter a tradição de amadorismo teatral que ia definhando.
Não sei como acabei me metendo entre eles, na parte comemorativa, que nada tinha a ver com teatro. Meus 13 anos não me davam condição estatutária, mas creio que se fez uma reforma para me admitirem. Pudera filho de fazendeiro importante, e garoto metido a rabiscar coisas…
Já então a professora Dona Balbina, no grupo escolar que me honro de ter frequentado (nada melhor que a escola pública daquele tempo, democrática e levada a sério), identificara em mim não sei que embrião de bossa literária, e fiquei com fama de possível literato futuro.
Talvez isso tenha levado os diretores do grêmio, num rasgo de generosidade, a aceitar-me. E lá foi o escritorzinho de calça curta fazer seu primeiro discurso de recepção, num 12 de outubro, botando Cristóvão Colombo, timidez e caradurismo no mesmo saco, para enternecimento de meu pai, que viajava a serviço e veio de longe, no seu cavalinho, para ver o brilharete filho…
Lya – Que lindo!
Drummond – A viagem de meu pai sim, achei linda, ou antes, agora eu acho. O discursinho não era lá essas coisas. O fato é que a entrada nesse sodalício me deu tanta satisfação, que não me passaria mais pela cabeça pertencer a qualquer outra instituição de sentido cultural ou acadêmico.
Se alguém me provoca, indignado: “Por que você não se candidata à Academia Brasileira ou à Academia Mineira de Letras”? Respondo: “Pertenci à Academia de Itabira, e sou fiel à sua memória.”
O mais corre por conta de temperamento, e isso não quer dizer que eu não adore a companhia de muitos acadêmicos, federais ou estaduais, que tenho entre os meus melhores amigos.
Lya – Como é que o Grêmio Arthur Azevedo dava conta do recado, em matéria de teatro?
Drummond – Promovia espetáculos no Teatro Municipal, essa coisa hoje raríssima nas cidades do interior; uma casa feita exclusivamente para teatro, que, não podendo de ser ao luxo de receber companhias vindas do Rio ou Belo Horizonte, servia a conjuntos locais de amadores, animados de fervor por uma arte que não lhes dava nenhuma recompensa; que lhes tomava tempo e exigia dinheiro para o mínimo de cenários e figurinos.
Móveis e adereços, naturalmente, vinham de casa dos interpretes. A técnica era o que havia de mais empírico, não creio que se consultasse nenhum manual de teatro, nenhum livro de teoria teatral. Mas pode-se dizer que o espetáculo funcionava, fazia vibrar atores e espectadores, criava aquela corrente cálida de aproximação entre o real da plateia e a invenção do palco.
Conhecíamos de todo dia cada interprete que era escrivão de cartório, prático de farmácia, estudante de direito em férias, dono de bar… E à noite, na hora do dramalhão ou da comédia, trocavam de identidade, eram vilões da ultima espécie ou príncipes cercados de esplendor.
Havia o problema do travesti. Moça de boa família, quem disse que podia representar? O Tito Franklin salvara a situação, transformando-se em mulher com habilidade fregoliana. Já gabei, numa crônica, o talento cômico do jovem Camilo de Oliveira, que mais tarde se distinguiria na carreira diplomática e nos estudos históricos brasileiros.
Hoje, embaixador aposentado, seu apartamento no Posto 6 é uma ilha discreta de espirito universalista e de sentimento itabirano amalgamados, também me lembro ainda do grande gesto do meu primo Maninho Andrade, enfatizando que “mais uma vez prevalece o poder de ouro”, afirmação que, vinda de priscas eras, continua válida a esta altura.
Nunca fui admitido nem pretendi figurar numa das peças montadas pelo Grêmio. Sempre me acharam o antiator. Meu jardim era a parte literária. E meu irmão me ajudava muito.
Lya – Que irmão?
Drummond – O Altivo, que estudava direito no Rio e me mandava jornais, revistas, me emprestava livros de Flaubert e Fialho d’Almeida, os daqueles traduzidos, de sorte que fiquei conhecendo Salommbô e A Educação Sentimental, meio desfigurados pela operação plástico-verbal da língua, mas ainda assim dava para farejar-lhe o cheiro original.
Principalmente do segundo, pois o primeiro me assustou um pouco, pela magnificência do espetáculo e do estilo: altas cavalarias para o mineirinho pedestre.
Passar de Fialho a Eça foi um salto de vara curta; fiquei freguês do segundo, e, pela graça de Deus, cheguei cedinho a Machado de Assis. Deste não me separaria nunca, embora vez por outra lhe tenha feito umas má-criações.
Justifico-me: amor nenhum dispensa uma gota de ácido. E o mesmo sinal menos que prova, pela insignificância e transitoriedade, a grandeza do sinal mais. Se me derem Machado na tal ilha deserta, estou satisfeito; o resto que se dane, embora o resto seja tanta coisa amorável.
Lya – Então o mano Altivo…
Drummond – Me conduziu ao que se poderia chamar de país da literatura, se não fosse meio boboca essa denominação. Que país é esse, dentro do país em que vivemos, onde tudo se passa mais dentro de nós mesmos do que fora de nós?
A gente escreve um poema, por exemplo, (uma poesia, como se falava antes do modernismo). Três quatro amigos o leem na roda do café sentado, e o comentam: gostei, não gostei, fraquinho, ótimo, convém mudar este verso. A revista o publica daí a um mês.
Mas três ou quatro pessoas dizem que o leram, e arredonda-se o vácuo em torno de nossa criação sofrida e amada, que nos daria a glória. Neste faz-de-conta de vida literária esgotam-se quatro, cinco anos de faculdade e vadiação.
Depois, cada um dos cumplices do poeta vai para seu destino na vida, e não acontece mais nada. Dou a você um quadro da atividade literária na província dos anos 20. A literatura vivia em mim, não existia lá fora.
Lya – Agora é diferente.
Drummond – Será?
Lya – De qualquer modo, hoje os aspirantes à literatura têm o estimulo de concursos com prêmios em dinheiro, coedição do Instituto Nacional do Livro, revistas, ambiente universitário.
Drummond – É. Mas o escritor continua mais ou menos um marginal no processo de desenvolvimento, que é puramente econômico, sem sentido cultural. O mercado que se abre para o livro ainda está na infância, com todo o rosário de “moléstias infantis”.
A literatura resiste como forma de solidão à margem de 110 milhões de seres. Mas voltemos à vaca-fria. Eu falava no meu irmão estudante de direito, que me incentivava à sua maneira: sem blandícias de palavras, antes com reserva, fornecendo material de leitura. Feliz o menino ou adolescente que pode contar com a ajuda de alguém mais velho para caminhar entre os sonhos confusos da imaginação literária.
Sem o mais velho assumir, é claro, jeito de pontífice ou censor, que estragaria tudo. O mano era discreto, ele mesmo cultivava umas coceiras simbolistas, das quais resultaram alguns poemas em prosa estampados na Vida de Minas, revista importante para o meio e para o tempo em Belo Horizonte.
O simbolismo tinha seus cacoetes encantadores. Um deles era prestigiar a letra y, apagando sempre que possível a letra i. O y nobre, que os dicionários da velha ortografia colocavam em lyra, em lympha, em myrto, em cysne, e que os simbolistas (ou symbolistas) transportavam para lyrio, onde aliás ficava muito bem.
Sua forma alongada tanto cabia tradicionalmente no fino pescoço da ave como, por arbítrio estético, no pedúnculo da flor – uma flor muito sobre o simbolismo. Meu irmão, por algum tempo, assinou-se Altyvo, e eu o admirei.
Lya – E foi-lhe nas águas, penetrando também o seu simbolismo?
Drummond – Não fiz outra coisa. Lá no meu mato-dentro, alheio à sugestão do meio físico e da história (que me soprariam outras falas, se eu tivesse olhos e ouvidos para captar a poesia latente em redor), imaginava habitar Bruges-la-Morte, não porque houvesse lido o romance de Rodenbach, mas porque a turma da Fon-Fon! deslizava muito pelos seus canis e neblinas.
Álvaro Moreyra, com seu y civil, era para mim a própria encarnação da arte delicada de escrever. Com o y e com as reticencias que arrematavam sempre suas frases. Como as reticencias alongavam, refinavam, musicalizavam o bloco de palavras, fazendo com que elas continuassem suspensas no ar, depois de concluído o texto!
Não me envergonho do meu alvaromomoreyrismo descarado, de simples repetidor canhestro, sempre aquém do modelo. Entre modelos de banalidades ou mau gosto, vigentes na época, sua prosa sensível e irônica seduzia pela finura. Fiquei fascinado.
Tanto assim que, anos mais tarde, vindo ao Rio praticamente pela primeira vez, pois antes só o fazia de passagem para o colégio em Friburgo, a coisa que fiz imediatamente foi visitar o Álvaro na redação-oficina das revistas editadas por Pimenta de Melo, que ele dirigia.
As principais eram Para Todos… e Ilustração Brasileira, onde minha vaidadezinha era gratificada com a publicação de vagidos neo-simbolistas. Fui à antiga rua Visconde de Itaúna, esperei o mestre meia hora, e quando ele apareceu e me ofereceu com dedicatória em tinta roxa a segunda edição de Um Sorriso para Tudo… (“Ao meu querido Carlos Drummond, pela graça um pouco triste do seu pensamento, que eu amo”), você pode imaginar o transe em que cai.
Se disfarcei, foi porque lá estavam dois camaradas que eu mal conhecia de referencia impressa, e que não podiam compreender minha emoção de discípulo. Dois pintores. Duas tendências que jamais se cruzariam na arte, mas que tinham agasalho nas revistas ecléticas dos anos 20: Di Cavalcanti e o Osvaldo Teixeira.
Lya – Você está burlando as etapas, se me perdoa o galicismo. Volte a Itabira.
Drummond – Outra lembrança amável daquele tempo: o delegado de polícia. Não se assusta. Não era delegado tipo prende-e-bate, como tantos que se tornariam nacionalmente famosos. O mais doce dos delegados, amante das letras, tão delegado quanto eu e você. Acho que para ele a ordem de prisão devia ser um constragimento intolerável.
Eu fui visatá-lo para pedir emprestado livros de sua biblioteca, e ele me declamava com entusiasmo Guerra Junqueira. Dr. João de Deus Sampaio, era o seu nome. Ainda menino, eu sentia vagamente a tristeza de sua vida forçada a comprimir aspirações intelectuais no âmbito mesquinho e antipático da delegacia de polícia.
Os crimes seriam raros, mantinha-se a ordem publica sem dificuldade, não havia ainda esse moderno conceito de segurança nacional, que faz da pulga um elefante. Mas, que tédio! E que vulgaridade… Agora vejo que o único preso realmente preso de Itabira era ele, delegado, que se consolava como podia.
O acolhimento que dispensava a um garoto como eu deixa-me comovido. O antigo aluno da Faculdade de Direito de São Paulo, onde fora colega de homens que ascenderiam aos mais altos postos civis do país, vegetava entre bêbados e loucos, clientes habituais de cadeia.
Um pouco assim como Alphonsus de Guimarães no juizado municipal de Conceição e de Mariana. Mas Alphonfus tinha sua poesia. O Dr. Sampaio não era poeta. Acho que lhe dei algum prazer pedindo-lhe que me emprestasse livros.
Lya – A essa altura você escrevia nos jornais de sua terra?
Drummond – Em 1918, 19 não havia jornais lá. A boa tradição da folha semanal, politica e literária, redigida pelos homens mais cultos da cidade – o bacharel, o médico, o escrivão do 1º, ofício – tinha acabado.
Foi então que o mano Altivo, indo passar uns dias com a família, daí resultou o numero deliberadamente único de um jornalzinho simbolista não registrado por Andrade Muricy no seu copioso Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Pudera: seus redatores só tinham em mira o prazer de editá-lo e distribui-lo a um pequeno circulo de leitores na cidade.
Altivo Drummond e Astolfo Franklin, este último, poeta e impressor, fizeram um jornal de quatro páginas, de 20 por 30 centímetros (mais ou menos), em verde roxo, com as produções dos dois e – para surpresa minha, que estava no colégio em Friburgo, e só no fim do ano vim a saber da história – um texto meu, de 15 linhas no máximo.
Eu tinha deixado aquilo entre meus papeis de literato enrustido, Altivo encontrou e achou digno de publicação. Assinatura: um pseudônimo bem no gosto da época: Wimpl. Por que o escolhi?
Porque soava raro, o W também tinha muito prestígio no ambiente simbolista. Era a estreia. E a emoção: então eles publicaram, eles acreditaram em mim! Título do jornalzinho: Maio… Pronuncie com três pontinhos.
Lya – Jornais manuscritos, os garotos não faziam?
Drummond – Fiz um, particular, só para minha leitura, e o guardava bem escondido do riso dos mais velhos. Queria que fosse mais ilustrado, mas uma das tristezas de minha vida é gostar de desenho e não saber desenhar um boneco.
Que inveja eu tinha de Amarílio Damasceno, meu colega e filho do telegrafista: era poeta, senhor de caligrafia primorosa e ilustrador emérito do seu jornalzinho, feito de parceria com o Paulo Rehfeld (1902–1960), que também se tornaria escritor e seria membro da Academia Mineira de Letras.
O jornal deles ganhava longe do meu, por isso me fechei em copas; redator e leitor e leitor único, a portas fechadas. Como um vício. De qualquer modo, o jornalzinho secreto me aparecia como antecipação da única coisa na vida que eu faria com certo prazer; o jornalismo profissional. E que não pude fazer como desejava, pois a burocracia tomou conta de mim, fiquei sendo jornalista bissexto.
Lya – A que espécie de jornalismo se refere: ao assinado, com pretensão estilística?
Drummond – Ao jornalismo no duro, que vai pela noite adentro ou pelo dia afora, conforme a pressão da notícia. Jornalismo suado e sofrido, com algo de embriaguez, pela sensação de viver os acontecimentos mais alheios à nossa vida pessoal, vida que fica dependendo do fato, próximo ou distante, do imprevisto, do incontrolável, da corrente infinita de acontecimentos.
Isso eu pratiquei em escala mínima, como redator de jornais em Belo Horizonte, na mocidade remota. Mesmo em escala modesta, senti o frisson da profissão. Sempre gostei de ver o sujeito às voltas com o fato, tendo de capta-lo e expô-lo no calor da hora.
Transformar o fato em noticia de modo mais objetivo, claro, marcante, só palavras essenciais. Ou interpretá-lo, analisá-lo de um ponto de vista que concilie a posição do jornal com o sentimento comum, construindo um pequeno edifício de razão que ajude o leitor entender e concluir por si mesmo; não é um jogo intelectual fascinante?
E renovado todo dia! Não há pausa. Não há dorzinha pessoal que possa impedi-lo. O fato não espera. O leitor não espera. Então, você adquire o hábito de viver pelo fato, amigado como o fato. Você se sente infeliz se o fato escapou à sua percepção.
Lya – Não acha que o batente jornalístico atrapalha o desenvolvimento do escritor, e pode até capá-lo?
Drummond – De jeito nenhum. O jornalismo é escola de formação e aperfeiçoamento para o escritor, isto é, para o indivíduo que sinta a compulsão de ser escritor. Ele ensina a concisão, a escolha das palavras, dá a noção do tamanho do texto, que não pode ser nem muito curto nem muito espichado.
Em suma, o jornalismo é uma escola de clareza de linguagem, que exige antes clareza de pensamento. E proporciona o treino diário, a aprendizagem continuamente verificada. Não admite preguiça, que é o mal do literato entregue a si mesmo.
O texto precisa saltar do papel, não pode ser um texto qualquer. Há páginas de jornal que são dos mais belos textos literários. E o escritor dificilmente faria se não tivesse a obrigação jornalística.
Lya – Tem razão. Vamos voltar à adolescência?
Drummond – Vamos. Mandaram-me para o colégio, já um pouco tarde, por motivo de saúde. Este menino não aguenta a parada… No Colégio Arnaldo, dos padres do Verbo Divino, em Belo Horizonte, a demora foi pequena. Quatro meses só – esse menino é tão fraquinho, coitado; fica por aqui mesmo, descansando.
Descansar dois anos hem? Na boa vida, na vida monótona de cidade do interior. Então resolvi espontaneamente ser caixeiro da loja do Nhô, sem salário e com direito a furtar chocolate na prateleira. Tempo da Primeira Guerra. Não me envergonho de dizer que fui germanófilo. Era uma tomada de posição contra a cidade inteira.
Eu e o e o Fernandinho Terceiro, do Correio, desafiávamos a multidão dos aliados. Até que afundaram navios brasileiros de marinha mercante e eu disse a Fernandinho: “Não pode ser. Viro aliado”. Fernandinho fitou-me com desprezo: traidor, diziam seus olhos.
O Brasil entrou na guerra e o meninote pretencioso discursou na rua, comício, badalação, essas coisas… Em 1918, tome colégio outra vez. O Anchieta, dos jesuítas, em Nova Friburgo. Aí literatizei dois anos na Aurora Colegial e pude ter a experiência, prévia da censura. O que a gente escrevia, o padre corrigia, mudava, edulcorava. Mas isso fica para o próximo programa.

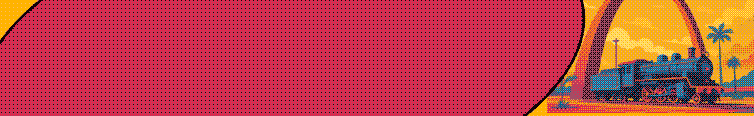











Alphonfus de Guimaraens, é a grafia correta.
Parabéns a vocês por apresentarem essa bela e Memorial entrevista do Carlos Drumond de Andrade.
A Voz dos não Falam, um jornal editado por Lya e CDA, em defesa dos animais