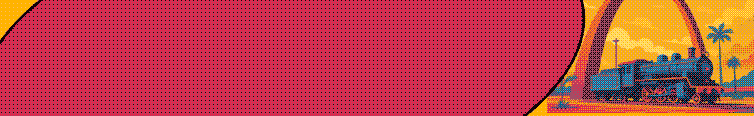Igreja, hangar de Deus
Foto: Edésio Ferreira/ EM/DA Press Pesquisa: Cristina Silveira
Um verso do poeta católico Paul Claudel teria inspirado a concepção do templo modernista de S. Francisco da Pampulha, em Belo Horizonte.
Por Eduardo Frieiro (Da Academia Mineira de Letras)
A Cigarra – Na rápida visita que fez a Belo Horizonte, o escritor norte-americano John dos Passos manifestou a um jornalista mineiro a sua admiração pelo que vira na Pampulha. Muitos outros turistas inteligentes tem confessado igual sua admiração pelo moderno conjunto arquitetônico que se perfila naquele local.
Não pode haver dúvida: numa cidade novíssima – incaracterizada, vulgar, como costumam ser as do seu tipo – a Pampulha é a única realização urbanística moderna de que os belorizontinos se poderiam ufanar, se acaso fosse razoável tirar ufania de luxos tão supérfluos, em violento desacordo com a pobreza e atraso do meio.
E dentro daquele conjunto é a igreja riscada por Niemeyer e decorada por Portinari o que mais se impõe à admiração geral. Pode não agradar a muitos, e verdadeiramente desagrada, aos que, demasiadamente habituados a outra coisa, se recusam a reconhecê-la como templo católico.
Mas a ninguém deixa indiferente. Mesmo os que não a aprovam, ficam rendidos diante da novidade, arrojo e fantasia da sua traça. Ninguém contempla sem uma forte impressão aquelas audazes linhas arquitetônicas e aquelas ornamentações revolucionárias, concebidas num estilo totalmente desacostumado, e executados com excepcional virtuosismo artístico.
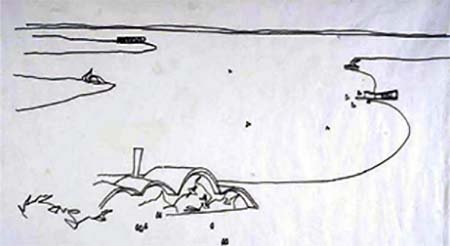 “Mas isto é um hangar!” exclamam todos ao vê-la pela primeira vez. E é, efetivamente. Não foi outra, parece, a intenção do arquiteto ao concebê-la, o qual se teria inspirado num verso do poeta católico Paul Claudel: Igreja, hangar de Deus!”
“Mas isto é um hangar!” exclamam todos ao vê-la pela primeira vez. E é, efetivamente. Não foi outra, parece, a intenção do arquiteto ao concebê-la, o qual se teria inspirado num verso do poeta católico Paul Claudel: Igreja, hangar de Deus!”
Igual estranheza causa a princípio a torre do sino, em forma de pirâmide invertida e afastada do corpo do edifício, com o qual se comunica por uma prancha de concreto.
A estranheza desaparece quando se sabe que aquela forma foi sugerida por uma recordação histórica: as primeiras capelas edificadas nas Minas do Ouro não tinham torre e o sino era pendurado numa tosca armação de dois paus, em forma semelhante à do campanário da Pampulha.
O interior não parece menos insólito que o exterior. Não se veem imagens esculpidas, senão pintadas. Ao fundo, no lugar destinado ao altar mor, há um painel de larga fatura moderna, alusivo às “gestas” do “Poverello” (São Francisco de Assis), cuja figura ascética tem um cão a seus pés.
Este e outros painéis do interior, assim como os azulejos que ornam a fachada posterior e as laterais, todos da autoria de Portinari, provocam as mais diversas reações em que os contempla. Uns prorrompem em exclamações de entusiasmo, outros sorriem de mofa, achando aquilo burlesco, outros ficam indignados, outros permanecem pensativos.

Seria rematada tolice imaginar que os autores da obra, dois mestres indiscutíveis da novíssima arte brasileira, quisessem mangar com as pessoas excessivamente aferradas ao já visto. Deve-se reconhecer, lisamente, que tudo foi concebido com perfeita probidade artística.
Mais ainda: é forçoso admitir que se trata de uma experiência do maior interesse, levada a cabo com um talento e um alento, que a colocam entre as mais felizes realizações de arte no Brasil. E, ademais, vale considerar que toda aquela novidade nada tem de aberrante; ao invés disso, está rigorosamente de acordo com as tendências estéticas dominantes na atualidade.
Só o misoneísmo pode condená-la, o misoneísmo da maioria, que recalcitra sempre em aceitar o novo, nas artes como nas letras, nas ideias como nos costumes. E foi cedendo ao sentimento da maioria que as autoridades eclesiásticas se recusaram a sagrá-la. Compreende-se a resistência, embora esta não se funde em razão de monta. O que não se compreende é que se tenha transformado em museu de arte moderna uma edificação destinada especificamente à igreja.
Assim a idealizaram, com finalidade indeclinável, o arquiteto e o decorador. Niemeyer e Portinari sabiam bem o que estavam fazendo. Conhecem o âmbito das respectivas artes e o que elas significam no fenômeno totalitário da cultura. Realizaram, pois, com perfeita ciência e inteira consciência, a obra de que os encarregaram. Devemos considerá-la frustrada? Talvez não. A condenação de hoje pode trocar-se em aprovação amanhã.

O fato, na verdade, envolve um problema que ainda provoca vacilações e dúvidas. Como fabricar a nova casa de Deus? No Brasil, e em outras partes, as igrejas construídas durante o século passado e o presente século formam em conjunto uma salada de todos os estilos, desde o bizantino ao neoclássico.
Não passam de reproduções de estilos inatuais, esgotados em passadas épocas. Nos melhores casos, imitações mais ou menos felizes do que ficou para trás. Nos piores, a maioria, “pastiches” de mau gosto. Em quaisquer casos, verdadeiros embustes arquitetônicos. Os velhos estilos estão mais que mortos.
É possível então, na arquitetura sacra, verter o vinho novo da arte em nossas pipas, como acontece com a arquitetura civil? Como ajustá-la aos novos materiais, às tendências novas do gosto e às mais recentes necessidades da indústria?
Há muitos anos se fazem tentativas nesse sentido, na Europa e nos Estados Unidos. Mas tem-se alegado, não se trata propriamente de adaptar a construção dos templos aos novos materiais e às necessidades novas da indústria, mas de ajeitar esses elementos às exigências da arte religiosa, que extrai das funções litúrgicas as suas normas. E aqui é que se embaraça o caso.
O novo – pensam muitos – não adquiriu ainda cunho espiritual. Que valor tem essa opinião? Pouco, como já foi demonstrado por defensores da arquitetura religiosa moderna, insuspeitos à igreja.
Um destes, o clérigo francês Arnald d’Angel, autor de L’Art religieu moderne”, declarando que não há verdade em arte senão enquanto há necessidade, refutou a opinião muito difundida de que o racionalismo exigente da arquitetura atual é contrário às diferentes acepções da espiritualidade.
E escreveu isto: “A teoria da arte moderna aproxima-se singularmente dos princípios da escolástica, tais como foram postos em ressalto por Jacques Maritain (1882-1973). Ao insistirem sobre o caráter racionalista da nova arte, Van de Velde, Vera, Le Corbusier (1887-1965), concordam com Santo Tomás de Aquino. Para este último a inteligência representa o papel preponderante em toda obra de ordem artística, e a habilidade nova, prefeita que seja, é extrínseca à arte, se bem que lhe seja uma das condições indispensáveis”.
E em outra parte: “Os partidários de Santo Tomás admitiam como nós que determinada arte pode e mesmo deve procurar a um tempo a utilidade e a beleza, tal a arquitetura… Desta confrontação da arte moderna com as teorias tomistas, como do estudo de suas características, ressalta a certeza de que nada, na arte racionalmente compreendida, se opõe às crenças e ao espírito do catolicismo…”

Nunca houve uma arte cristã. Louis Dimier (18865-1943), em L’Eglise et l’Art, contestou a afirmação de que, durante mais de quinze séculos, tenha sido a igreja a grande inspiradora da arte. O cristianismo encontrou-a no mundo e adotou-a em todas as suas grandes transformações através dos séculos. E não só em seus começos adotou a estética profana, como utilizou assuntos pagãos.
É exato, segundo Dimier, que a arte das catedrais fornece a demonstração de um magnifico surto cristão. Mas este se materializa mercê de aquisições despidas de caráter religioso e que, na maioria dos casos, vem da Ásia e trazem a marca do paganismo. Assim, recorda-o a propósito, o estilo gótico não se reservou exclusivamente aos edifícios religiosos; era o estilo da época e foi usado em obras civis.
Dimier não tentou diminuir em qualquer forma a importância da igreja nas suas relações com a arte; apenas quis especificar que ela foi receptiva e não criadora, e se enriqueceu e brilhou com a beleza criada pelo homem. O profano fertilizou o mundo sagrado. Em conclusão, não há um “modo” cristão, mas um repertório de formas nascidas independentemente da fé e que esta aproveita.

O que mais surpreende os católicos na Igreja de S. Francisco da Pampulha é o arranjo litúrgico interno, em nada parecido com o habitual. Mas os defensores da nova igreja podem alegar que o seu arranjo sacro se aproxima do das catacumbas em que oravam os primeiros cristãos, em cujos muros não se via nenhuma das figuras conhecidas hoje: nem a Trindade, nem o Padre Eterno, nem as cenas da Paixão.
Os velhos estilos estarão realmente mortos?
[Revista A Cigarra (SP), janeiro de 1949. BN-Rio]