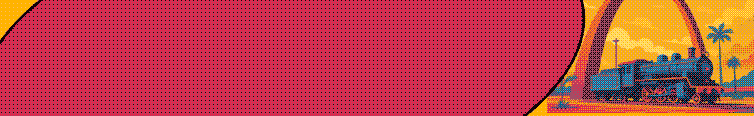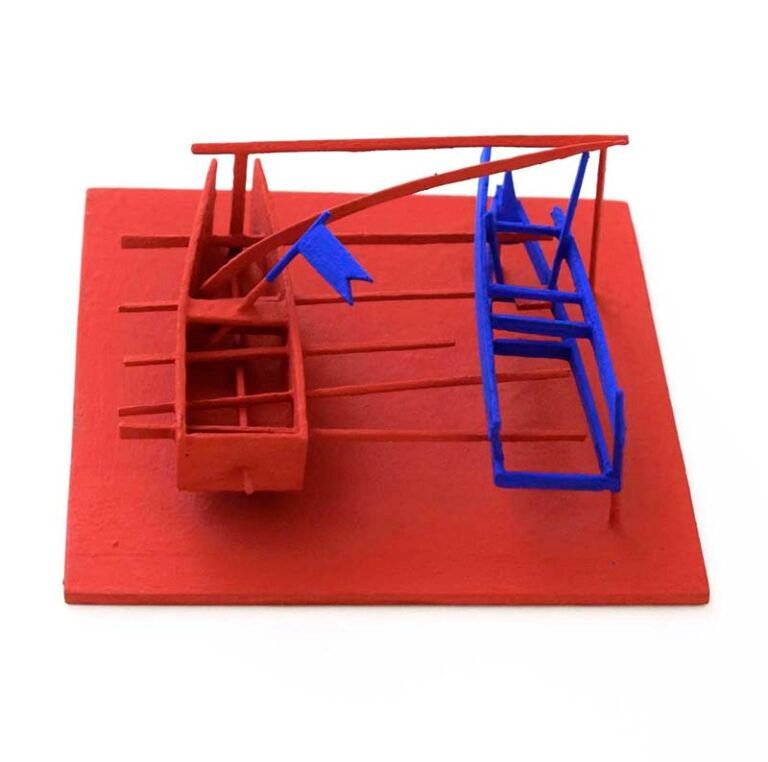A Menina Morta
Acervo: Cristina Silveira
Cornélio Penna*
Prima Maria Delfina, como todos a chamavam, ajoelhou-se austeramente, com a fisionomia impenetrável, e pareceu mergulhar em suas orações, com os olhos fitos no corpo que jazia sobre a mesa. Vinha de volta da porta do quarto da Senhora, e ainda ressoava em seus ouvidos o seco e áspero “obrigado” que ouvira, quando tinha acabado de avisar com voz muito tremida que tudo estava pronto.
– O nosso anjinho já está vestido e preparado, na sala do Oratório – dissera ela, então, entrecortando as frases de soluços que deviam ser escutados do outro lado da porta. Estava tão entretida com o seu papel, com o papel que involuntariamente criara que esqueceu por momentos a sua dor verdadeira, e chorou lágrimas artísticas, sem a menor comunicação com o que se passava em seu espirito e em seu coração.
A voz da fazendeira, agradecendo-lhe o aviso, em tom de tal forma cortante, que desfazia qualquer veleidade de dramatização, tornou impossível a cena que esperava, isto é, o abrir-se a porta e surgir uma figura desgrenhada de mãe, arfante de dor, esquecida dos artifícios da vaidade, gritando pela filha, e também fê-la cair em si.
Olhou, assim despertada, para si própria, com mordente autocrítica. Um relâmpago de ódio passou por seus olhos, e suas mãos se engalfinharam nas varas do balão, que segurara para poder melhor se aproximar do espelho enorme da fechadura, com sua maçaneta de cristal e dourados.
Teve ímpetos de esbofetear o próprio rosto, pois traíra de forma irrisória a menina que tinha sido a sua alegria sem mistura, o seu carinho sem nenhuma intenção. Tinha sido um amor muito puro o que dedicara à criança, e esse amor viera redimi-la e perdoá-la de todos os pensamentos, muitas vezes sangrentos, que a agitavam, sem nunca realizarem-se.
Como ousava agora fingir que estava desesperada, quando estava realmente desesperada? Era essa uma humilhação que não podia suportar, que não era possível permitir que lhe infligisse o seu gênio inquieto, o seu coração confuso e exaltado.

Por isso, ela se levantara cabisbaixa, sem dizer uma só palavra a mais, e atravessara os corredores com seu passo largo e resoluto, mas, por estranho capricho, sempre silencioso, e fora para a sala do Oratório, onde tentou afogar em orações e tumulto que dentro dela se fizera.
O rosário de sementes de oliva, vindo da Terra Santa, pois pertencia à Irmandade do Santo Sepulcro, corria-lhe entre os dedos com esquisita velocidade, e seus lábios se agitavam em vertiginosa articulação.
De vez em quando beijava febrilmente a cruz de madrepérola que lhe pendia do peito e apertava-a de encontro a si, como se pedisse proteção contra os inimigos e sossego para o seu velho coração.
Estava tão alheia a tudo que se passava em torno dela, que não viu o cocheiro entrar na sala e vir ajoelhar-se bem perto, apenas um pouco para trás, mas não o suficiente para demonstrar o seu respeito pela senhora.
Essa falta seria punida por ela, em outra ocasião, com um olhar fulminante de desprezo reprovador, mas dessa vez passou despercebida, e foi com um grande estremecimento, que a percorreu toda, que ouviu uma voz muito humilde dizer-lhe ao ouvido:
– Sinhá Dona Maria Delfina…
Já inteiramente senhora de si, ela reparou em Bruno, que, de mãos postas, e muito fulo, pois todo o seu sangue devia ter-lhe fugido do rosto, e assim tomara uma cor entre cinza e roxo-amarelo, a olhava, de soslaio, com os lábios franzidos, pálidos e trementes. Quando ele viu que a velha senhora erguera o rosto e cessara de rezar, tomou coragem e repetiu, com a garganta presa:
– Sinhá Dona Maria Delfina!
– Queria falar com vancê, é muito importante…
Prima Maria Delfina hesitou. Devia deixar que o cocheiro, que ela sabia atrevido e ousado, pela confiança que ele supunha gozar por parte do fazendeiro, devia permitir que ele lhe falasse ali, diante de todos, aos cochichos, como se fossem iguais?
Seu dever era, com certeza, pensou, repelir aquela insolência, e chamar o feitor Pedro Nolasco, que a respeitava muito, para por tudo em ordem. Mas, refletiu em seguida, se assim fizesse, não saberia do que se tratava, e talvez fosse mesmo coisa útil e séria o que pedia para dizer-lhe o mulato.
– Venha para a sala de jantar – disse ela por entre os lábios, sibilando as palavras, sem que se pudesse ver mover um só músculo de seu rosto magro, de linhas masculinas, e levantou-se e saiu da sala, com indizível dignidade.
Logo que transpôs os umbrais do aposento vizinho, recuou com rapidez, e ocultou-se atrás da porta. Poucos instantes depois, chegava junto dela o rapaz, que se tornara ainda mais humilde depois dessa prova de confiança, que dificilmente teria podido esperar da prima de seu Senhor, e aguardou que ela o interrogasse.
– Que quer você? Diga depressa, sem rodeios tolos.
– Sinhá Dona Maria Delfina, eu queria dizer a vancê o recado que as crianças – e apressou-se em esclarecer – as negrinhas me pediram que lhe desse…
– Não sabia que você era o moço de recados da copa e da cozinha.
Bruno ficou perplexo. Qualquer coisa de lívido passou pelos seus lábios, que estavam secos, como se tivesse febre. Olhou para a senhora com olhos maus, de relance, mas logo abaixou a cabeça, e depois de suspirar, em um suspiro que era quase um gemido, prosseguiu:
– São todas as negrinhas e mulatinhas da fazenda, Sinhá, que pedem ao Sinhô para carregar o caixão da nossa Sinhazinha menina até o cemitério da cidade. Elas irão a pé, mudando de mão…
– Que ideia! – exclamou Dona Maria Delfina – mas que ideia! por que não pede você ao primo Comendador?
– Eu tenho medo, Sinhá, e todas as negrinhas também têm… Não vê que elas sabem que é muito oferecimento… – murmurou Bruno, com ar tristemente confidencial – por isso queríamos que a Sinhá Dona Maria Delfina, prima do Sinhô, fosse nossa madrinha, nesse pedido…

A velha senhora ficou confusa. Não sabia se devia ficar ofendida com tamanha liberdade, mas, ao mesmo tempo, lembrou-se do encanto que seria para a menina, se visse descer a serra um enterro de criança, com negrinhas de vestido riscado novo, com fitas nas trancinhas espetadas, que lhes dividiam as carapinhas ao meio, todas entoando em sua meia-língua cânticos muito simples.
Ela mesma achou que esse espetáculo seria um consolo, uma triste alegria no meio de toda aquela angustia que oprimia a fazenda, e transtornava seus pensamentos.
Ela própria, com um farto vestido negro, acompanharia lentamente o pequeno féretro, e, maternal, orientaria as escravinhas, zelando pela ordem e pela harmonia do cortejo, sem se deixar perturbar pelos tropeços do caminho, tão irregular em suas ladeiras devoradas pelas chuvas, cavadas fundo pelas rodas dos carros de bois, que as desciam carregados de café.
Cantaria ela também, e seria belo e agradável a Deus aquele espetáculo, e seria também mais uma prova pública de que todos adoravam a pequena Sinhazinha…
Ficou assim absorvida em seus sonhos, entre doces e dolorosos, e deles foi chamada à realidade pela voz profunda e máscula do Comendador, que a chamava.
– Prima Maria Delfina?
Quando ela se voltou e precipitou-se na direção do corredor para onde dava o quarto dos senhores, a fim de atender a esse chamado, sentiu que alguém agarrava a sua mão, e a beijava com fervor.
A senhora detestava essas manifestações, e, quando isso acontecia, por parte dos negros, ia para o seu aposento e lavava-se com teimoso cuidado, para depois perfumar os dedos com aguardente onde tinha macerado, durante longo tempo, raízes aromatizadas, colhidas por ela mesma.
Mas agora, não havia possibilidade de fazer isso, e apenas passou o lenço com força nas costas da mão, sem sequer tentar impedir que Bruno visse o seu gesto. Mas ele ainda segurou por um instante a ponta do chalé de cachemira de Dona Maria Delfina, e ciciou suplicante:
– E agora, sinhá…
[Tribuna da Imprensa, (RJ), 14/4/1951. Hemeroteca da BN-Rio – Pesquisa: Cristina Silveira]
Nota: A primeira edição de A Menina Morta é de 1954, portanto o capitulo assinado por CP e publicado na Tribuna da Imprensa antecede a primeira edição e não consta na edição de 1958 da Aguilar.
*Cornélio Penna (1896-1958) foi um escritor, pintor, gravador e desenhista brasileiro, nascido em Petrópolis, Rio de Janeiro, em 20 de fevereiro de 1896, e falecido em 12 de fevereiro de 1958, no Rio de Janeiro. Ele é conhecido por sua contribuição ao Modernismo brasileiro, especialmente na segunda fase, e por criar o realismo psicológico na literatura brasileira.
Embora tenha vivido grande parte de sua vida no Rio de Janeiro, Cornélio Penna sempre destacou a importância de sua infância em Itabira do Matto Dentro, Minas Gerais, que influenciou profundamente sua obra.
Ele escreveu romances marcados por uma atmosfera de mistério e introspecção, como Fronteira (1935), Dois Romances de Nico Horta (1939), Repouso (1948) e A Menina Morta (1954), sendo este último considerado um dos melhores romances brasileiros.
Além de sua carreira literária, Cornélio Penna também se destacou nas artes plásticas, mas abandonou essa área na década de 1930 para se dedicar exclusivamente à literatura. Sua obra é caracterizada por capítulos curtos e uma escrita intimista, explorando memórias históricas e subjetivas.