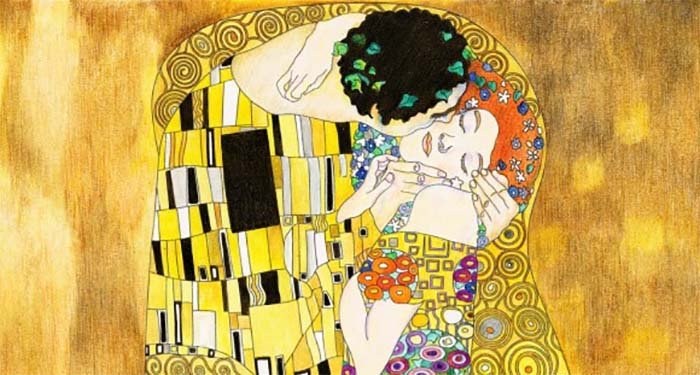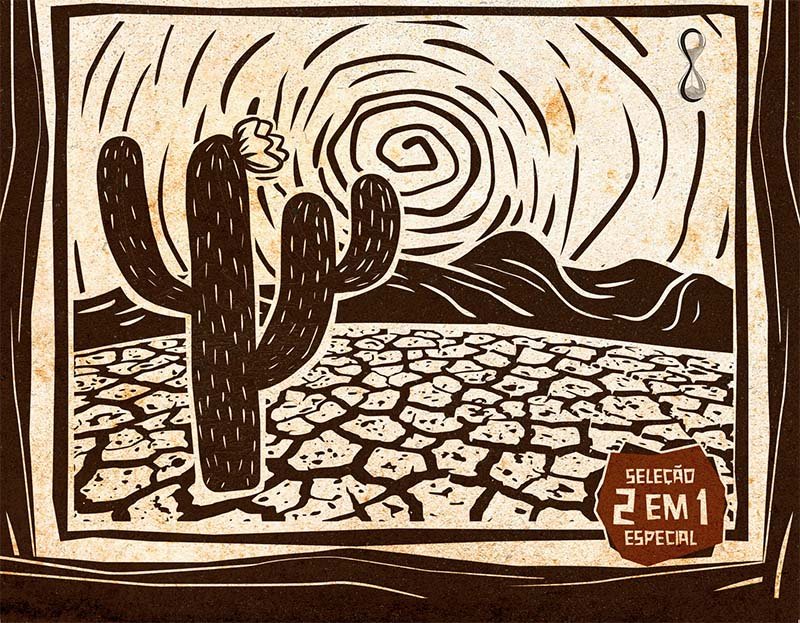A crise da desinformação
Foto: Reprodução
Os limites do colapso da verdade
Por Alexandre Martins*
Vivemos em um tempo em que a informação nunca foi tão abundante, mas também nunca foi tão difícil discernir o que é real do que é fabricado. A desinformação, antes um fenômeno marginal, hoje estrutura narrativas políticas, redefine identidades coletivas e até mesmo altera o curso de eventos históricos. O que começou como um problema pontual nas bordas da internet transformou-se em uma crise sistêmica, capaz de corroer os fundamentos da democracia, da ciência e da própria noção de verdade objetiva. Até onde isso pode nos levar?
A desinformação não é mais apenas um ruído no sistema comunicacional; é uma força ativa que molda percepções e comportamentos em escala global. Nas últimas décadas, vimos como campanhas de falsas narrativas influenciaram eleições, como teorias conspiratórias ganharam status de “verdades alternativas” e como a mentira, quando repetida incessantemente, se torna indistinguível do fato. O grande perigo não está apenas na existência da desinformação, mas na forma como ela se normaliza, como se infiltra nas instituições e como redefine o que as sociedades entendem por realidade.
Um dos efeitos mais perversos desse fenômeno é a erosão do consenso factual. Quando fatos são tratados como opiniões e mentiras são defendidas como “outro ponto de vista”, a base comum necessária para o debate público desaparece. Sem essa base, o diálogo se torna impossível. As pessoas não apenas discordam sobre soluções políticas, mas passam a habitar universos informacionais completamente distintos.
O que é incontestável para alguns é ridicularizado por outros. O que é evidência científica para uma parcela da população é visto como manipulação ideológica por outra. Esse cisma epistemológico é o terreno fértil para a polarização extrema, para a desconfiança generalizada e, em última instância, para o colapso da cooperação social.
As consequências já são visíveis. Movimentos antivacina, alimentados por desinformação, custaram vidas durante a pandemia. Golpes políticos e insurgências, como o ataque ao Capitólio nos EUA em 2021, foram amplificados por narrativas falsas. Conflitos sociais se intensificam quando discursos de ódio e notícias fabricadas são compartilhados como se fossem legítimos. E, em um nível mais profundo, a desinformação mina a capacidade das sociedades de resolver problemas coletivos. Se não há acordo sobre os fatos, como enfrentar desafios como mudanças climáticas, desigualdade ou crises de saúde pública?
O futuro que nos aguarda depende de como respondemos a essa crise. Se a desinformação continuar a se expandir sem freios, podemos caminhar para um cenário de autoritarismo digital, onde governos e corporações controlam a narrativa pública por meio da censura e da manipulação algorítmica. Ou, em um extremo oposto, podemos mergulhar em uma anarquia informacional, onde a proliferação de versões da realidade torna qualquer consenso impossível, fragmentando sociedades em tribos ideológicas irreconciliáveis.
Mas há uma terceira possibilidade: a reconstrução de um ecossistema informacional baseado em transparência, responsabilidade e educação. Isso exigirá esforços múltiplos. Plataformas digitais precisam assumir sua responsabilidade sem se tornarem árbitros arbitrários da verdade. Governos devem regular sem censurar. Jornalistas e acadêmicos precisam recuperar a confiança pública sem abrir mão do rigor. E, acima de tudo, os cidadãos precisam ser capacitados para navegar criticamente no oceano de informações em que estamos imersos.
A crise da desinformação é, no fundo, uma crise de confiança. E confiança não se reconstrói com algoritmos ou leis, mas com um compromisso coletivo com a verdade, por mais incômoda que ela seja. Se não agirmos, podemos chegar a um ponto em que a verdade não apenas será disputada, mas irrelevante. E uma sociedade que perde a capacidade de distinguir verdade e mentira está fadada a perder muito mais do que debates—está fadada a perder sua própria coesão.
O desafio que enfrentamos não é apenas tecnológico ou político. É civilizatório. E o tempo para enfrentá-lo está se esgotando.
 *Alexandre Martins é jornalista, sociólogo, consultor em comunicação corporativa e política.
*Alexandre Martins é jornalista, sociólogo, consultor em comunicação corporativa e política.