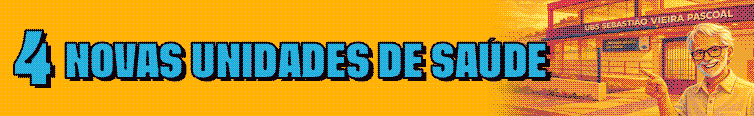A Busca
Através, (1983 -1989), Cildo Meireles (1948-), do Brasil (Rio).
Foto: Pedro Motta/ Inhotim-MG
Maria Julieta Drummond de Andrade inicia-se hoje (23-12-1945) na literatura brasileira, publicando pela primeira vez um trabalho de sua autoria, este trecho da novel A Busca, que já se encontra no prelo de uma de nossas editoras.
Contando apenas dezessete anos, torna-se assim, a mais jovem ficcionista do Brasil e, a concluir por este capítulo de seu livro de estreia, também uma das mais originais e mais bem dotadas escritoras nacionais.
Filha do poeta Carlos Drummond de Andrade, uma das glórias mais positivas de nossas letras, Maria Julieta herdou-lhe a sensibilidade, a emoção, a inteligência e o senso crítico.
É com alegria e confiança que apresentamos neste suplemento literário algumas páginas da jovem autora de A Busca.
Trecho da novela A Busca
Célia e eu fomos convidadas para jantar em casa de d. Lourdes. Ela tinha sido amiga de mamãe e quando nos encontrava na rua ou na igreja, fazia muita festa:
– Vocês já estão umas mocinhas. E bonitas heim? Então, como vamos de colégio? E o papai está bom?
Eu detestava comer fora de casa. Sentia, pesando sobre a minha falta de jeito, a atenção e a ironia dos outros. A faca não cortava direito, grãozinhos de arroz teimavam em escorregar pela boca. D. Lourdes tinha copeiro e lavandas de prata. Pareciam baciinhas de barba ou essas lagoas que a gente põe no presepe.
O peixinho fica boiando, azul, vermelho, há uma tartaruga de celuloide. Num Natal, vovó mandou-nos lá da chácara, um presepe. O Menino-Jesus tinha cara de enjoo, mas São José era um amor. Pedro inventou montanhas, uma floresta, a estrada de areia peneirada; plantei um capinzinho, junto à gruta.
Naná endireitava as tranças de Célia, sacudia as mãos polpudas, o decote ia-se afundando. Pela terceira vez ajeitou o laço em minha faixa.
– Mais apertado, Naná, está muito largo.
– Você que ficar com cinturinha de macaco? Deixa assim mesmo, é assim que se usa.
Meu vestido se fechava numa gola de renda; Célia estava toda de verde-claro. Tínhamos sapatos iguais, de verniz preto e entrada baixa.
– Vê se fica direitinha, Célia. Não faz barulho com o talher e não fala com a boca cheia. Toma conta dela. Maria não deixa ela comer muito. A gente não repete sobremesa, não, viu?
– Mesmo se for sorvete?
Célia adorava sorvete de abacaxi, eu preferia de creme, com calda de chocolate por cima. Ficava uma ilha redonda tremendo sobre o líquido, que era marrom como água de enxurrada. Eu gostava também da chuva, as poças iam-se enchendo, os pés pareciam gelo.
Às vezes em dia de chuva, eu punha o capote cinzento (que era um velho amigo) e ia lá para o barracão. Uma piorra, duas; os fios, caindo, davam um pequeno salto e se esborrachavam. Fazia um barulho sempre igual, que me cobria de tristeza.
O automóvel parou em nossa porta. Desceu o filho de d. Lourdes, magrinho e espantado. Entramos, o carro continuou; o menino sentou-se na frente. Eu olhava para Célia, olhava as casas voando atrás do vidro, a bolinha verde em minha pulseira
– Fora da avó de mamãe, mas não me causava medo, como o colar do retrato. Depois olhei a cabeça preta do menino e continuei a não dizer nada. Minha irmã procurava salvar-se:
– D. Lourdes é sua mãe, é? Ela era amiga de mamãe.
Vi que o menino era ainda mais tímido do que eu (como se isso fosse possível). Quando um ônibus freou bruscamente ao nosso lado, o chofer mastigou um nome feio. O pequeno virou estátua. Célia teve de capitular.
O queixo de d. Lourdes não acabava mais; depois ia se esticando, quando ela ria. No tapete, riscos de todos os tons, correndo, se sobrepunham. Quantos pés já o teriam pisado? Vinha do rádio um fio de valsa, o divã era liso e reto. Eu não podia me desgrudar do rosto de uma mulher, sentada junto à porta.
Lourdes falara qualquer coisa sobre a cunhada, ela parecia ser intima da família. Usava os cabelos á la homme, e tinha mesmo o jeito de um rapaz. Fumou o tempo todo, e nenhuma vez olhou para Célia ou para mim.
D. Lourdes perguntava, os estudos, Pedro, nossas aulas de catecismo. Célia respondia prontamente; o menino fixo numa poltrona cor de abóbora, brincava com os joelhos.
A moça tinha o corpo seco, um tailleur justo, as unhas cortadas rentes. Reparei em suas finíssimas meias de seda. A pele desmaiada como uma pintura branca. Quando entrou o marido de d. Lourdes, ela se levantou e começou a falar alto.
Não sei bem o que dizia, em maneira afetada, andava de um lado para outro, o homem retrucando, discutiam batalhas e nomes esquisitos. A dona da casa – sempre um ponto de interrogação – observava-a com respeito. A mulher me fascinara, devia ser muito sábia e poderosa.
Durante o jantar, ora gritou com superioridade, ora emudeceu no meio de uma palavra. Comia delicadamente, sem deixar que os antebraços tocassem na mesa. Em vez do creme de ameixas, chupou uma tangerina e retomou os cigarros.
Célia e d. Lourdes agora estavam amicíssimas; minha irmã, à vontade, criava mentiras impossíveis.
D. Lourdes achava uma graça enorme. A moça repuxava ligeiramente o pescoço; ficando exaltada, o cacoete se repetia com mais força. Seus lábios eram sem limites, tão duros quanto o rosto. DE repente virou-se para o menino:
– João Francisco, você é um perfeito idiota.
Ele se encolheu, sempre inexpressivo; entretanto parecia tem-la. D. Lourdes e o marido estavam perplexos de admiração. Ela teve um risinho irônico.
Às dez horas, o automóvel e o menino nos trouxeram de volta, silenciosos como antes. Célia fechava os olhos de sono, mas eu já não me possuia, e voava para a mulher.
Passaria a noite inteira contemplando-a. Ela tinha um mistério, era preciso desvendá-lo. Sobretudo era fantástica, diferente de tudo o que até então estacionara em meu caminho.
***
A moça vinha chegando. Senti tudo aos pinotes, pensei nas meias, quase imateriais. Naná exigiu um relatório minucioso do jantar. Queria saber como era a louça, o que tínhamos conversado, se a carne assada estava boa.
Sempre teimei em não responder perguntas como essas; nada me irritava mais do que uma conversa provocada. Gostava de armazenar minha experiência, com furioso egoísmo. Aquilo era meu, ninguém tinha o direito de arrancá-lo. Como as pessoas são chatas. Célia disse:
– Ih, Naná, você precisa ver. Tinha uma mulher gozada, que parecia homem.
– Quem? – perguntou Naná, assanhada.
– Mentira dela, Naná! Célia sempre foi uma mentirosa. Não acredita, não. O tempo todo ela só fez inventar coisas para tapear d. Lourdes.
– Eu estava selvagem: podiam falar de tudo, mas poupassem (por piedade) o meu segredo.
– Homem, sim, ela era igualzinho a um homem! Até o cabelo era assim, feito o de Pedro e de papai.
– O que ela fazia? – Naná e sua curiosidade malsã.
– Sei lá, ela falava com o dr. Queiroz. Fumava tanto, que a gente nem sabia direito se era homem ou mulher.
Atirei-me sobre Célia:
– Sua mentirosa, sua imbecil! Você só sabe ir à casa dos outros para voltar falando mal. Cala essa boca, desgraçada!
Naná tentava separar-nos.
– Desgraçada é sua vó, viu? Era homem e era e era!
– Meninas, misericórdia, parem com isso! Célia! Maria, você mata a sua irmã!
Eu era magra e ágil; esperneava de ódio. Os braços poderosos de Naná impediram-me de asfixiar minha irmã. No meu dedo tinham-se moldado a impressão de doze dentes.
Um liquido vermelho escorria do nariz de Célia. Então cai em mim, angustiada. A mulher repuxava o pescoço. Eu tinha matado minha irmã, arrancando sangue do seu rosto.
– Célia, queridinha, me perdoe Célia! Você está morta!
A pequena vítima recuperava as forças. Naná sacudiu-me:
– Você vai já para o porão de castigo, está ouvindo? E não me saia de lá até a hora do jantar.
– Eu vou, Naná, eu não presto para nada. Você nunca mais deixa eu comer, nem sair de casa. Matei minha irmã!
Estava ardendo de desespero. A mulher tinha olhado para o menino com um risinho sarcástico, as unhas eram quadradas e curtas. E agora Célia nunca mais ia falar comigo. Estirei-me no chão; debatia-me como um bicho agonizante:
– Célia, pelo amor de Deus, me dê um pontapé, me pisa e me cospe! Eu não quero mais viver, eu ia matando minha irmã!
Naná começou a se alarmar. Célia já nem pensava no nariz:
– Maria, Mariazinha, você não me matou, não. Eu estou aqui, pertinho de você, não estou com raiva, não.
As convulsões eram incontroláveis. A mulher discutia e descascava tangerinas. Célia estava morta, o vestido branco, toda coberta de cravos. Naná chorava baixinho, Pedro se embriagara. Papai ficou mais imóvel do que o próprio cadáver. Eu, de repente, entrei na sala, com a faca na mão:
– Olhem, sou uma assassina, matei minha irmã.
Soltei uma formidável gargalhada. A moça se levantou:
– João Francisco, você é um perfeito idiota.
Muitas freiras vieram acompanhando as colegas de Célia. Minha irmã estava tão bonitinha, em seu caixão de flores. Pedro queria declamar, mas o padre chegou e começou a aspergir água benta pela sala.
– Um idiota! Um idiota!
– Parecia um homem… Ela era um homem e era e era!
O enterro nunca mais que sai. Ulisses vem devagarinho, e abocanha o pé do padre. O padre dá um berro:
– João Francisco, você é um perfeito idiota.
[Correio da Manhã (RJ), 23/12/ 1945. Hemeroteca BN-Rio – Pesquisa: Cristina Silveira]